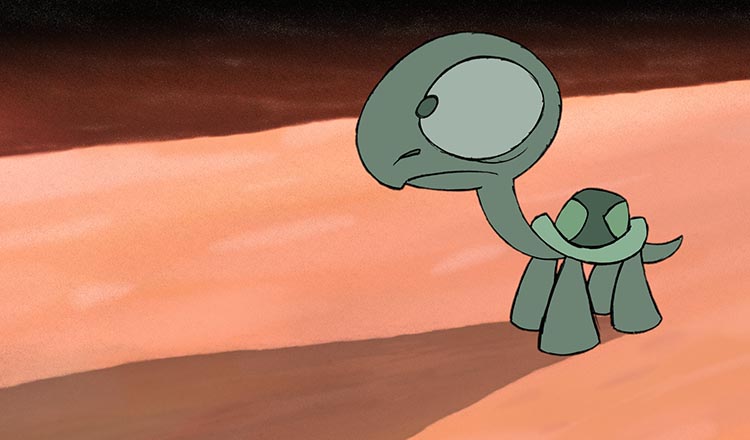entrevista de João Paulo Barreto
Uma nuvem atrapalhada e com incontinência pluviométrica. Uma tartaruga mal humorada com transtorno obsessivo compulsivo por arrumação. Uma super-heroína mutante em busca das peças de um jarro que lhe dará o mapa para uma salvação. A inesperada e destemida equipe que se forma da junção desses três personagens é a espinha dorsal de “Bizarros Peixes das Fossas Abissais” (2024), primeiro longa metragem do veterano Marcelo Marão, um dos heróis da animação brasileira com 14 curtas metragens no currículo, mais de uma centena de prêmios, além de quase três décadas (seu primeiro filme data de 1996) de experiência nesse mercado.
O mergulho nas tais “fossas abissais” do enigmático título dessa sua estreia no formato de longas é literal, mas, também, emocional e metafórica. Na trama, após uma enchente no Rio de Janeiro, a intrépida tartaruga vê o local onde “trabalha” arrumando itens à venda ser inundado. Ao cair no mundo fazendo valer seu esforço por ordem (leia-se TOC), encontra com a nuvem mijona, que salva a heroína das garras de rinocerontes espaciais que buscam, também, as mesmas peças do jarro que formam o mapa salvador.
Conhecendo a filmografia de Marão (disponível no YouTube gratuitamente com destaque aos hilários “O Anão que Virou Gigante”, de 2008, e “Até a China”, de 2015), é possível perceber em “Bizarros Peixes das Fossas Abissais” a intenção de referenciar situações autobiográficas que se relacionam de forma cômica à própria vida do artista. Aqui, no entanto, há um aspecto diferente que, uma vez percebido pelo espectador, vai tocá-lo de maneira mais emocional. Mas, para não estragar tal imersão (trocadilho intencional), convém deixar que as fossas abissais e emocionais o alcancem dentro da própria escuridão da sala de cinema. E são as mesmas fossas repletas de trevas que, quando surgem, acompanhadas de um denso monólogo da protagonista, levam a reflexão trazida pelo filme a um nível além do cômico. Mas é válido frisar que, antes disso, as gargalhadas diante das situações que beiram o nonsense e abraçam o absurdo se fazem presentes, como já é de hábito nas produções de Marão.
“O filme inteiro é autobiográfico”, pontua Marão em entrevista ao Scream & Yell. “Mas é um autobiográfico onde tem cenas que, enquanto estava fazendo, eu dizia para quem estava comigo, pintando, escaneando: ‘Ah, isso é sobre essa minha ex-namorada’. A pessoa falava: ‘Mas é uma lula lutando. Como assim?’ ‘Não, mas é o meu jeito de falar sobre’. E outros momentos que são mais explícitos. Os lugares onde a história acontece, por exemplo. O filme começa no Rio de Janeiro, que é onde eu moro, agora. Depois ele passa por Nilópolis, que foi onde eu nasci”, explica o diretor.
O simbolismo da busca dos três personagens e o encontro com as fossas abissais ganham os citados contornos biográficos de um modo cuja relação do cineasta com a trama espelha sua própria vida, mas, também, a do espectador e suas próprias raízes familiares. A citada cena do monólogo revelador da protagonista é um dos pontos de maior impacto emocional nesse sentido. “O monólogo da mulher, que não vou falar para não ser spoiler, pois é um momento importante do filme, é um monólogo dela. Mas ele é todo literalmente meu. Tudo. Tudo o que ela fala ali aconteceu comigo e com o meu avô. Assim, não é uma adaptação”, salienta Marão.

Em seus aspectos técnicos, “Bizarros Peixes” reflete muito da dificuldade em produzir um longa-metragem de animação. Com oito anos de produção, o filme, que conta com as vozes de Natália Lage, Rodrigo Santoro e Guilherme Briggs, chega aos cinemas após longa labuta. Seu lançamento acontece através da Sessão Vitrine Petrobrás, que leva ao público filmes com ingressos a preços populares. Marão relembra o processo inicial e como foi para encontrar o direcionamento e ver a produção engrenar. “Tirando a parte financeira, uma das dificuldades foi a de construir uma narrativa que não fosse irregular. Na prática, a gente improvisou na criação das cenas. A primeira cena do filme foi a primeira a ser animada. A última cena do filme é a última ser animada. Tudo foi evoluindo desse modo. Quando eu tinha 30 minutos prontos, eu tinha exatamente os primeiros 30 minutos do filme”, explica.
Sobre o aspecto financeiro, Marão relembra uma comparação que fez durante uma entrevista concedida a um jornalista que lhe perguntou qual era o orçamento do filme. “Ao invés de dizer o valor total, eu comparei com o longa da Pixar/Disney que estava sendo lançado na época”, afirma Marão, entre sorrisos. “Quase todos os longas blockbusters de grandes estúdios têm o orçamento que é para fazer o filme e, em geral, eles têm outro orçamento, que é para divulgação, para mídia. Às vezes é o mesmo valor. Às vezes, é maior do que o valor do que foi (gasto) para fazer o filme. Desconsiderando todo esse valor de divulgação de mídia no filme da Pixar, considerando só a produção, somando todo o dinheiro que a gente teve para fazer o ‘Bizarros Peixes’, de desenvolvimento, de produção e de finalização, daria para fazer nove segundos de um longa da Pixar. Eu fiz a conta”, revela.
As presenças de Natália Lage, Rodrigo Santoro e Guilherme Briggs despontaram para o filme a partir de convites especiais feito por Marão, que, ao conceder uma entrevista à Natália há alguns anos, percebeu sua força de entonação vocal quando ela proferiu uma das frases mote do longa. Já Santoro, experiente dublador, já possui sua voz em filmes como “Uma História de Amor e Fúria”, filme de 2013, além de “Rio”, filme lançado por Carlos Saldanha em 2011. Em sua versão brasileira, Santoro dublou seus diálogos em português e contou com a direção de Guilherme Briggs. Quando aceitou convite de Marão para “Bizarros Peixes”, o ator sugeriu a presença do próprio Briggs, uma das principais e mais famosas vozes do cenário recente.
“Desde o início do roteiro, quando o Guilherme, a Natália e o Rodrigo estavam lendo, já havia características mais explícitas dos personagens. A timidez da nuvem, a sisudez da tartaruga, por exemplo”, diz o diretor. Tendo um processo natural de criação prática, com as cenas que iam sendo animadas seguindo a posição cronológica dentro do filme, nada mais de acordo, então, que o processo de dublagem seguisse a naturalidade de Marão e da dupla de animadores Rosária e Fernando Miller, com quem ele divide a atribuição. “Uma das coisas que lembro que eu mais pedia é para (a dublagem) ser menos interpretada, para ser menos atuada, para ser mais monocórdios, mais monotônico, mais espontâneo. E, às vezes, quando alguém gaguejava ou errava, se ele ou ela pedisse pra gravar de novo, a gente gravava para ter várias versões. Mas, em geral, eu optava pela versão que encavalou a letra, a palavra, gaguejou. Isso porque acaba sendo mais espontâneo e natural do que do que quando era atuado “, explica.
No papo abaixo, Marão aprofunda mais como foi esse mergulho nas Fossas Abissais. Confira!
Você tem uma experiência longeva na produção de curtas metragens de animação. Para além da questão de mercado, de apoio financeiro, como foi o processo de passagem para a criação de um longa? Foi algo natural ou você passou por algum choque de adaptação?
O problema maior, como você falou, é sempre pecuniário, conseguir o apoio, o dinheiro. Seja para curta, longa, para os projetos. Sempre considerei o curta metragem um formato nobre da animação. Nos festivais, eu assistia aos longas, assistia aos episódios das séries, mas os curtas sempre foram para mim um momento de experimentação, mais espontâneo, mais autoral, mais pessoal. Seja narrativamente, ou graficamente, ou tematicamente. E a diferença maior no momento de tentar fazer um projeto mais longo, inicialmente era conseguir manter o interesse do público. Era como manter o ritmo do filme, manter o interesse da pessoa para ela não se levantar no meio da sessão e ir embora. Porque de todos os curtas, o mais longo que eu havia feito até então tinha 15 minutos. E, ao mesmo tempo, quase todos os trabalhos, que eram o que pagavam as contas, que traziam o dinheiro para comprar comida e para pagar o aluguel, eram trabalhos encomendados. Pela minha geração, na sua maioria, eram trabalhos de propaganda, publicidade e institucionais. E são trabalhos muito curtos. Às vezes, aparecia um trabalho que tinha que levar o final de semana fazendo para entregar na segunda. E às vezes aparecia um segundo comercial para fazer no mesmo final de semana. Eu era obrigado a aceitar os dois. Tinha que dar um jeito de me ensaboar, de não dormir e fazer os dois, porque, talvez, no resto daquele mês, não houvesse mais trabalhos. E sempre era um período breve para lidar. Mesmo quando era um curta metragem, era no máximo um ano para você produzir, para você lidar com aquele personagem, com a personalidade dele, com a evolução do design. Então, uma gana que eu tinha era conseguir ter um trabalho maior para poder me dedicar, para poder me divertir durante mais tempo com um mesmo grupo de personagens, com um mesmo trabalho. Nunca tentei escrever uma história que funcionasse para um longa. Na verdade, esse projeto “Bizarros Peixes” era uma história que precisava de mais tempo. E ele tinha vários momentos em que, apesar de no roteiro que eu mandava para os editais, eu informar que a história já estava pronta, ele estava pré programado de uma maneira que eu sabia que eu ia ter que mudar depois. Na sequência do fundo do mar, por exemplo, que tem 16 minutos, se você olhar o roteiro, ela tem uma página, que seria equivalente a um minuto. No roteiro, essa cena de imersão no fundo do mar durava só um minuto, mas no filme tem 16. Eles descem, resolvem a situação em uma página, e voltam. Isso porque eu sabia que eu quereria me divertir improvisando as cenas. E isso era também uma coisa que acontecia em todos os (meus) 14 curtas metragens. Acho que em três ou quatro deles, nós tivemos algum tipo de apoio, de fomento. O que quer dizer que tínhamos que mandar um projeto, um roteiro já com início, meio e fim. Nos outros curtas, mesmo sem nenhum apoio, eu passava um, dois, três anos fazendo em paralelo ao trabalho encomendado (que pagava as contas). Porque, para mim, era o momento mais importante em trabalhar com animação. É nesse momento que você está produzindo, que está fazendo algo que é pessoal, que é autoral, que é seu.
Após 14 curtas metragens na sua carreira, quais as dificuldades que você teve na produção de “Bizarros Peixes das Fossas Abissais”?
Com o longa, tirando a parte financeira, na prática, foram duas dificuldades. A primeira foi a de construir uma narrativa que não fosse irregular. Na prática, a gente improvisou na criação das cenas. A primeira cena do filme foi a primeira a ser animada e a última cena do filme foi a última a ser animada. Tudo foi evoluindo desse modo. Quando eu tinha 30 minutos prontos, eu tinha exatamente os primeiros 30 minutos do filme. Fizemos sem model sheet, sem storyboard, sem animatic. Foi de uma maneira mais teatral. Já que eu ia passar quatro, cinco, seis, oito anos fazendo o mesmo trabalho… É quase não profissional se você passa oito anos fazendo exatamente o mesmo roteiro que você escreveu lá atrás. De tudo que você assiste, de tudo que você lê, as pessoas que você conhece, de tudo que acontece na sua vida nesse tempo, é muito difícil não mudar a sua abordagem, a sua opinião. Então, eu não queria que isso também fosse um trabalho engessado, como eram os trabalhos encomendados durante a vida inteira. E, ao mesmo tempo, a outra dificuldade nova era a logística de equipe, mesmo sendo uma equipe muito pequena. No Brasil, são 106, quase 107 anos de animação brasileira até hoje. Nos primeiros 90 anos, foram menos de duas dúzias de longas de animação. Foram 23 ou 24 longas de animação. Algo que é muito pouco para quase 90 anos. Isso quer dizer que temos muito pouca experiência prática com isso. Já neste ano de 2024, já existem 40 longas em produção nas cinco regiões do Brasil. No Sudeste e Sul, que era onde eventualmente mais se produzia, além do Centro-Oeste, do Nordeste, e, também, no Norte. É um número de filmes sendo produzidos em 2D e 3D, em stop motion, em cut out, em vetorial tradicional. E na hora de começar o “Bizarros Peixes”, eu sabia que não ia adiantar para a estrutura de estúdio, de equipe, emular, repetir ou copiar a estrutura de uma produção americana ou europeia ou japonesa, e nem as outras brasileiras que estavam começando a ser feitas. A maioria das produções que estavam acontecendo no ano em que começamos a fazer o “Bizarros Peixes”, tinham equipes grandes. Eram produções em 2D, vetorial. Tinham outra lógica muito diferente. Nós tínhamos, então, que inventar uma logística para poder trabalhar. E nos quase dez anos de produção do longa, o primeiro ano de trabalho, não de pré-produção, mas de produção de fato, com todo mundo animando, escaneando, pintando e montando o filme, foi o ano que, na prática, rendeu menos. Isso porque demorou para encontrarmos uma lógica de trabalho no dia a dia. Eu não abri vagas para equipe nesse filme. Eu optei por chamar pessoas que eu já conhecia, pessoas que eu já amava. Isso porque eu já imaginava que eu ia passar cinco, seis, sete anos na produção. Então, eu ia querer trabalhar com pessoas com quem eu gosto de conviver. Mais importante do que gostar do filme, são as pessoas de quem eu vou me lembrar durante esse período enquanto nós estávamos trabalhando nele. Foram pessoa como a Rosária, que é uma das minha melhores amigas e ex-namorada, o (Fernando) Miller, que é um dos melhores amigos, a Silvana (Andrade) também. Mas, mesmo assim, cada detalhe pequeno da produção, detalhes que não eram um problema quando a gente fazia os curtas ou os comerciais, em uma produção desse tamanho acabou virando uma encrenca.
Você se recorda de algum exemplo dessas “encrencas” que a produção de um longa trouxe?
Sim. Por exemplo, vou falar uma coisa que eu achava que era uma bobagem: fazer o backup. Tradicionalmente, você faz backup de tudo o que você produz nos estúdios da sua produtora todo mês, a cada dois meses. Mas quando o trabalho leva oito anos até ser concluído, você, de repente, descobre que há uma cena de quatro anos atrás, sumiu da nuvem. Sumiu do Dropbox. Não está mais no backup. Quando você vai procurar e descobre que o fato da nomenclatura dos arquivos ter o nome em maiúscula ou minúscula. Ter o underline ou não, isso que parece uma bobagem, vira um problema gigantesco. Então, muitas coisas que pareciam pequenas da logística, nós fomos descobrindo e inventando à medida em que a gente ia fazendo o filme. O ideal seria, quando você termina um longa, um trabalho maior, começar o outro seguinte. Porque uma lacuna, uma coisa que me deixa triste, é perder essa logística de estrutura de trabalho com as pessoas em um eventual lapso de tempo entre um trabalho e o próximo trabalho maior. Eu tinha muito medo, também, de, graficamente, ficar enfadonho pra quem assiste e pra nós mesmos enquanto estávamos fazendo, a mesma cara do filme. Durante a maior parte da minha vida, eu ia aos festivais de animação assistir às sessões com muitos curtas. Então, munido dessa uma história pregressa, o que fizemos no longa metragem foi perceber a narrativa dele. Existe uma história muito simples, uma linha muito simples de narrativa. Ela é a de uma mulher, uma tartaruga, uma nuvem que tentam encontrar os cacos de um vaso para formar um mapa. Então, baseado nessa linha muito simples, eu podia me divertir inventando e improvisando bizarrices e maluquices, mas sem interferir na história. E eu também não queria finalizar tudo da mesma forma. Isso, porque, também, tinha esse receio de mudar a equipe ou da qualidade de finalização.

Quais foram as escolhas na parte técnica que você teve que fazer em relação ao tipo de animação, ao tipo de renderização, por exemplo?
Na época, a gente podia pagar o equipamento que renderizava o que estava sendo escaneado em 2K. E aí eu pensei: “se você vai levar seis anos para fazer um filme, será que daqui a seis anos todos os filmes serão em 4K ou em 8k? E aí? Eu não vou conseguir exibir isso em lugar nenhum?” Porque para poder escanear mais do que 2K, o scanner que temos tinha que escanear em 600 dpi. Isso levava muito tempo para fazer uma função simples. Se você pinta no computador, o computador tem que ser poderoso. Porque o pincel, quando você pinta digitalmente no computador, demora um tempinho para reconhecer. Então, a sua tablet já está aqui (indicando o ponto na tela), mas a imagem, a pintura, ainda está atrasada. Então, fizemos tudo em 2K. Mas tínhamos um receio do resultado final porque ele tinha qualidades e estilos diferentes nessa finalização. O filme começa em preto e branco. Tem uma sequência que é toda monocromática. Depois tem outra sequência que também é monocromática, mas em outra cor, em outro tom. Depois vem uma sequência colorida, chapada. Após isso, outra sequência colorida, mas onde cenários são pintados. Inclusive, quase todas as cenas do filme têm alguma referência lógica pessoal para mim, mas que não tem lógica nenhuma para você, João, ou para quem estiver assistindo, eventualmente. São referências obscuras. Mas é como se fosse uma sessão de curtas metragens. Se eu não conseguisse resolver esse ritmo para manter o interesse do público, seria uma intenção escondida de tentar enganar, fazendo o cérebro da pessoa achar que está vendo vários curtas diferentes. E aí muda para o fundo do mar, e no fundo do mar é tudo preto. Então vira outra cara, outro designer também do filme. A intenção era tentar experimentar da mesma forma que acontecia nos curtas. No cinema, a gente tem uma janela. 16X9, uma janela parecida com essa que a gente está aqui (entrevista via Zoom), do formato da televisão, do computador. Quando você desenha quadrinhos, você pode fazer um quadrinho quadrado, outro comprido vertical, outro comprido horizontal, outra página inteira. No cinema, a gente sempre é muito limitado a essa área, a essa composição. Toda composição tem que ser nessa área. Então, tem um, tem um trecho do longa onde eu mudei a janela. Gradualmente, eu ia mudando a janela para poder me divertir com a composição dos elementos no layout daquelas cenas.
Começamos o papo falando sobre as dificuldades em relação a grana, em relação ao aspecto pecuniário da produção. Como foi esse processo?
O último edital do BNDES foi o apoio de produção para o filme. Nós recebemos apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro para desenvolvimento, que é para escrever a história, preparar o orçamento, cronograma. E o BNDES deu aquilo que a gente chama de seed money, que o dinheiro inicial, o “dinheiro semente”, o primeiro dinheiro. Sabendo que o nosso filme seria esquisito e potencialmente não comercial, e para a gente poder experimentar dessa forma, então a proposta foi fazer um filme inteiro só com esse seed money. Um jornal na época me perguntou qual era o orçamento do filme. Ao invés de dizer o valor total, eu comparei com o longa da Pixar/Disney que estava sendo lançado na época. Quase todos os longas blockbusters de grandes estúdios têm o orçamento que é para fazer o filme e, em geral, outro orçamento para divulgação. Às vezes é o mesmo valor e às vezes é maior do que o valor do que foi (gasto) para fazer o filme. No nosso caso, a gente ainda recebeu o FSA (Fundo Setorial do Audiovisual) para a finalização do filme. Desconsiderando todo esse valor de divulgação de mídia no filme da Pixar, considerando só a produção, eu fiz a conta no papel e somando todo o dinheiro que a gente teve para fazer o “Bizarros Peixes”, de desenvolvimento, de produção e de finalização, daria para fazer nove segundos de um longa da Pixar. Na época, saiu no jornal: “Seria possível fazer mais ou menos dez segundos”. Aí eu liguei para ele depois, nem para reclamar, mas só para explicitar: “Não, cara! Não dá para fazer dez segundos. Preciso de mais R$150 mil pra fazer dez segundos. Dá fazer nove. Não é mais ou menos. São nove, mesmo”. Então, quanto mais oneroso, quanto mais caro o projeto, maior é o medo de quem coloca o dinheiro. Mais medo essas pessoas têm em fazer uma coisa que não seja igual a outra, que já é um êxito de bilheteria ou de público. E a proposta da gente era fazer com esse baixíssimo orçamento para poder justamente ter essa liberdade. Estou com 52 anos e fiquei surpreso de ter conseguido terminar um filme, um longa-metragem, em vida. Na minha referência das gerações anteriores, raramente alguém conseguia fazer um longa. E quando conseguia, fazia e morria. Não dava tempo de fazer outro longa na mesma vida. Então, eu queria tentar aproveitar essa talvez única oportunidade de fazer um longa. Faz quase um ano que o “Bizarros Peixes” está nessa carreira de festivais. Ele estreou dia 25 (janeiro de 2024) comercialmente nas salas de cinema, mas já estava circulando nos festivais. E eu estava bem apreensivo com isso. Mas fiquei bem surpreso em como muitas pessoas de estados e países diferentes aceitaram esse filme. Um filme que é simples, esdrúxulo, esquisito. Fiquei bem feliz como algumas pessoas que vieram conversar depois dizendo que estavam incentivadas a fazer uma coisa delas, do jeito delas. É algo que não tem nada a ver com o nosso filme, mas eu fiquei bem feliz em ouvir isso. Que elas se sentiam mais à vontade para tentar fazer uma coisa que também não é comercial, mas da maneira que elas quereriam fazer.
Assistindo aos teasers promocionais de “Bizarros Peixes das Fossas Abissais”, você fala sobre alguns dos seus curtas terem referências biográficas pessoais, como é o caso de “O Anão que virou Gigante”, no qual você aborda uma referência a sua estatura, e, também, com “Até a China”, que traz um diário de viagem seu. Neste longa, me perguntei sobre essas referências suas estarem representadas em diversos aspectos. Sem spoilers da trama, queria lhe perguntar sobre essas inserções.
Adorei você deve ter percebido e assimilado isso. Porque o filme inteiro é autobiográfico. Mas é um autobiográfico onde tem cenas que, enquanto estava fazendo, eu dizia para quem estava aqui, pintando, escaneando: “Ah, isso é sobre essa minha ex-namorada”. A pessoa falava: “Mas é uma lula lutando. Como assim?”. E eu: “É o meu jeito de falar sobre”. Outros momentos são mais explícitos. Os lugares onde a história acontece, por exemplo. O filme começa no Rio de Janeiro, que é onde eu moro, agora. Depois ele passa por Nilópolis, que foi onde nasci. Os meus pais são do interior de São Paulo. De Tanabi, que é a cidade que aparece no final do filme. Eles se casaram e vieram para a Baixada Fluminense. Nilópolis é a cidade da escola de samba Beija-Flor. Eles foram para lá e começaram a trabalhar com um armarinho para tentar fazer um pé de meia. Acabaram que estão lá até hoje, né? Continuaram lá nos últimos 60 anos. Quando eu era criança, os meus pais tinham muito medo, pois a Baixada Fluminense é perigosa hoje, mas já era naquela época. Ainda mais para quem vem do interior, da roça. Então, quando eu era criança, eu não saía para brincar. Não jogava bola. Não ia para a rua soltar pipa. Eu ficava em casa, brincava de Playmobil e lia gibi. No armarinho do meu pai, os funcionários, as funcionárias, quando estavam vendendo lã, tecido, tinha uns bloquinhos onde faziam contas, anotavam as contas em relação aos tecidos, às metragens. E aí, quando eu era criança, eu pegava esses bloquinhos e desenhava tipo uma bola na última folha, depois desenhava outra bola na folha de cima. Aí quando eu fripava, essa bola ia quicando. Eu não sabia ainda, mas isso era o princípio flipbook. É o princípio da animação 2D tradicional. E apesar da minha família ser formada por professores, comerciantes e médicos, os meus pais sempre me apoiaram muito quando eu evidenciei que tinha o intuito de fazer uma coisa que não era uma profissão no Brasil. Na época do vestibular, nos anos 1980, era tão difícil animação no Brasil que era mais viável você sobreviver fazendo quadrinhos naquela época do que fazendo animação. Então, no filme, eu quis fazer essa homenagem. O armarinho ainda existe até hoje. Meu pai está lá, hoje, aos 80 anos, trabalhando no armarinho. Eu quis homenagear e agradecer. Então, aparece exatamente o armarinho como era na época que eu era jovem. Aparece meu pai ainda jovem, de bigode preto. Aparece minha mãe trabalhando no caixa. Apareço eu no pacote, né? Cabeludo, magro e jovem ainda. E cada sequência do filme tem alguma outra referência que, pra mim, é muito explícita e que eu achei que estava escondida, mas eu espero que não atrapalhe a pessoa em assistir ao filme. Mas fiquei bem feliz que você assimilou assim. Quando vai para Araraquara, que é perto de Tanabi, perto de onde a minha família está e para onde minha irmã foi estudar, aquilo, para mim, é a referência do que aconteceu na faculdade. Tem vários simbolismos bizarros dentro da minha cabeça que para mim é o trecho de Araraquara. É o trecho sobre a época em que eu estava da adolescência para a vida adulta na faculdade. Depois de me formar, começando a ir para os festivais, a cada ano, eu descobria um país e uma outra cultura diferente. E no ano em que eu estava fazendo o filme, eu tinha acabado de ir para um festival de animação na Sérvia. Então, esse trecho da Sérvia, que poderia ter sido Armênia, que poderia ter sido algum outro país, ele simboliza o período em que eu viajava com os curtas para os festivais. Não faz nenhum sentido o que eu estou dizendo, né?! (risos) Mas é a razão era essa.
Ao assistir ao longa, fiquei imaginando, inclusive, diversos significados para as tais “fossas abissais” e como elas representam estados de espírito dos personagens.
Você lembra da Superinteressante? Desde que sou adolescente, lembro que tinha umas histórias prontas lá. Matérias sobre os supercondutores. Teve uma capa sobre os Bizarros Peixes das Fossas Abissais. O título era quase igual ao título do filme. E aquilo me fascinava. Sempre me fascinou. O Discovery Channel é outro exemplo. Eu incluía coisas como a vida dos camaleões, ou como funciona a cópula das girafas, nos curtas de animação sem inventar nada. Para mim, já era uma história pronta saber que os camaleões lutam cromaticamente. Que o camaleão não tem agressão física. Que eles mudam compulsivamente de cor até obter a vitória moral sobre o outro. E no caso dos peixes das fossas abissais, cada documentário que eu eventualmente conseguia assistir, eu via uma espécie nova. É tão difícil alguém chegar lá, a seis mil metros abaixo da superfície do mar, que cada vez que alguém desce lá, descobre uma espécie nova. Então, cada documentário que eu via, tinha alguma outra espécie. E aí tem esse trecho no qual eu tenho 16 minutos do filme em que não acontece nada. Que são só os peixes no fundo do mar. Esse é um momento que eu tenho medo de as pessoas irem embora da sala de cinema. E só parei porque as pessoas que trabalham comigo me mandaram parar. Porque eu queria desenhar mais peixes. E o monólogo da mulher, que eu não vou falar mais para não ser spoiler, pois é um momento importante do filme. É um monólogo da mulher, mas ele é todo literalmente meu. Tudo. Tudo o que ela fala ali aconteceu comigo e com o meu avô, com o nosso avô. Assim, não é uma adaptação. Vou te contar um segredo. Quando o filme ficou pronto, o primeiro lugar onde eu exibi ainda o arquivo antes de ter o DCP, antes de a cópia de projeção, foi para a família lá em Tanabi, que é a cidade que aparece no final do filme. E aí aconteceu uma situação que nunca mais vai se repetir, que é a família inteira assistindo e chorando, porque todo mundo identificava, inclusive aquela sala, aquele quarto, aquela casa que não existia mais, mas que era do nosso avô. Então é tudo muito literal. Exatamente o que tinha acontecido.
E o trabalho de dublagem? Como foi o processo de encontrar os tons de cada um dos dubladores, no caso o Rodrigo Santoro, o Guilherme Briggs e a Natália Lage?
Desde o início do roteiro, quando o Guilherme, a Natália e o Rodrigo estivessem lendo, já havia características mais explícitas dos personagens. A timidez da nuvem, a sisudez da tartaruga, por exemplo. Mas a mulher, a gente não sabe muito bem sobre ela, sobre a personalidade dela até o meio do filme. Eu falei no começo que tinha chamado só pessoas que eu conhecia, que eram próximas, íntimas para toda a equipe. Mas nesses três casos, não são pessoas tão próximas quanto a equipe que desenhou junto comigo, que pintou, que escaneou, mas também tem outras referências. A Natália Lage tinha um programa de entrevistas sobre cinema brasileiro. Durou vários anos. E teve um ano em que me chamaram para participar. O programa era sobre os meus curtas e eu já tinha vontade de fazer esse longa. Mas na época eu ainda não tinha nem o desenvolvimento ou o apoio para a pré-produção. Na época, o título do filme era “Minha Bunda é um Gorila”, que é a frase do começo do filme. E quando a Natália leu, ela leu com várias inflexões na voz. Era a primeira vez que eu via uma atriz de verdade lendo. E quando terminou a gravação do programa, eu perguntei pra ela: “Será que você tem algum interesse, algum dia, em fazer voz original para animação?” Guilherme Briggs estudou com a gente na Escola de Belas Artes da UFRJ. Ele começou a carreira como desenhista e é desenhista até hoje. Então, o Briggs sempre participou desde o meu primeiro curta. Ele fazia as vozes tendo dinheiro ou não. Ele é a pessoa que a gente conhece desde bem jovem e que virou uma celebridade respeitadíssima hoje. Mas continua tão afável, tão humilde e fácil de lidar quanto era na época. E o Rodrigo Santoro eu não conhecia pessoalmente, mas ele tinha feito uma animação do Luiz Bolognesi, o “Uma História de Amor e Fúria”, que tinha as vozes do Selton Mello, da Camila Pitanga e do Rodrigo Santoro. Todo os três formidáveis, mas quando o Selton Mello e Camila Pitanga falam, você identifica imediatamente que são essas pessoas pela voz. O filme tem quatro momentos da história do Brasil, incluindo até o futuro, e eles são personagens que variam nesses quatro momentos. E o Rodrigo Santoro está formidável no filme. Mas você não quebra o personagem. Você não percebe que é ele. E no filme “Rio”, do Carlos Saldanha, que foi feito nos Estados Unidos, o Rodrigo Santoro fez a voz de um dos personagens. Já na versão brasileira, ele se dublou. O diretor da versão dublada é o Briggs. Na época, contei com a ajuda muito gentil do Bolognesi, contatei o Santoro. Ele topou, mas pediu para o Briggs participar, também. Só que fora esse momento, as vozes foram gravadas em dias diferentes. A Natália gravou em São Paulo todas as falas dela sem referência. O Briggs gravou as falas dele aqui no Rio, também, sem ter a outra pessoa para trocar. E por último, o Santoro gravou. O momento das vozes é o momento em que eu me divirto bastante, porque eu não tenho que desenhar. Mas a gente tem muitas opções, muitas versões de cada fala. Muitas versões variadas onde, apesar de eventualmente não ser a intenção, como a gente grava muitas versões e te dá uma gama ampla para você conseguir construir uma resposta emocional do que um falou em São Paulo e outro gravou três meses depois no Rio, que funciona entre os dois e que funciona de acordo com o que te interessa pra animação, pro desenho. Porque uma das coisas que lembro que eu mais pedia é para ser menos interpretado, para ser menos atuado, para ser mais monocórdico, mais monotônico, mais espontâneo. E, às vezes, quando alguém gaguejava ou errava, se ele ou ela pedisse pra gravar de novo, a gente gravava para ter várias versões. Mas, em geral, eu optava pela versão que encavalou a letra, a palavra, gaguejou. Isso porque acaba sendo mais espontâneo e natural do que do que quando era atuado. Agradeço muito, pois nos três casos, eles gravaram inúmeras versões de cada fala. Às vezes, eu nem sabia. Pedia para parar de dar opções, porque eu não sei o que eu vou escolher depois. E era sempre muito mais dramático. Dramático no sentido de ser uma inflexão naturalista do que uma voz que, teoricamente, convencionalmente, seria para uma animação, que é muito bom para a gente na hora que a gente vai animar.

Sem dar spoiler do seu conteúdo, lembrei agora do tom dramático do monólogo.
Sim. O monólogo da Natália, enquanto a gente estava montando, alguém me perguntou: “Você vai colocar imagens, fotografias do passado para o monólogo?” E a intenção era não. Eu queria que a imagem fosse toda preta. A intenção era que você, espectador, quando estivesse assistindo, lembrasse de quaisquer referências do passado em sua vida. Apesar de ser um filme de animação, o momento importante do filme não tem animação, não tem desenho, não tem imagem.
Preciso lhe perguntar, também, sobre como foi o desenvolvimento do trabalho musical feito por Duda Lasso para a trilha do filme. Ele consegue captar a alegria de certos momentos, a introspecção de outros, a tensão em várias cenas. E isso sem perder aquele tom cômico.
Uma lacuna na minha vida e que eu nunca soube tocar nenhum instrumento. João, você toca piano? Toca violão?
Não. Tenho essa lacuna idêntica em minha vida. Tentei aprender até com partituras, mas desisti homericamente falando .
(risos) Porque eu, mesmo sendo um potencial músico medíocre, acho que seria importante para eu saber conversar com o músico, com a pessoa que vai compor, que vai executar. E eu tinha muito receio de ofender, de magoar, na hora de pedir o que eu queria. Porque eu não queria dar referências de outras coisas. Na animação publicitária, a vida inteira a gente trabalha recebendo tipo um desenho do Frajola e aí a pessoa chega e pede: “Eu quero que seja assim”. Mas eu tinha que mudar, sei lá, o nariz dele, que é redondo, vermelho, tinha que virar um triângulo, mudar só o suficiente para não ser processado, para a agência não ser processada. Mas sempre era um design pronto. E eu não queria fazer isso com a música. O Duda é de Ribeirão Preto. Ele trabalha fazendo música infantil, fez a trilha de alguns curtas do Thomas Larson, que é o irmão dele, e ele fez a trilha do “Até a China”, que é o último curta que eu tinha feito. Mas ele nunca tinha composto trilha para longa-metragem. A gente não sabia qual seria a melhor opção. Se seria escrever e gravar toda a trilha antes para eu animar as cenas de ação em cima dessa música. O “Fantasia”, filme da Disney de 1940, era assim, a música toda já existente e a sua animação está submissa àquele som que já está pronto. Na maioria dos outros filmes, você filma, edita, monta e a música que é submissa à imagem, ao tempo da imagem. Durante esses seis anos de produção ininterrupta, o Duda ia escrevendo, compondo em MIDI uma prévia da música e, no final das contas, a gente conseguia conversar de uma maneira que ele me deixava muito à vontade para falar sobre a música sem ficar ofendido. E aí eu podia dizer algumas coisas como quando ele ia apresentar uma versão do tema da tartaruga e eu pegava, sei lá, uma pintura, um desenho no celular e pedia pra ele: “Você pode fazer uma outra versão dessa cor? Igual a essa pintura da música. E aí ele falava: “Ah, entendi, posso!”. “Nem eu entendi o que estou pedindo para você” (risos). E ao invés da gente mandar para uma orquestra no leste europeu, que é uma coisa normal, porque é uma orquestra, de fato, e fica mais barato, eu tinha essa intenção forte desde sempre de ter só profissionais daqui do Brasil trabalhando. E o Duda sugeriu um conservatório em Tatuí, no interior de São Paulo. A gente foi para lá durante dois, três finais de semana. E toda a trilha foi gravada com alunos e professores de música erudita dessa escola. Uma parte é de professores, outra de alunos que, também, participavam de uma big band de lá de Tatuí, no estúdio que era na casa de um dos professores. Também era uma equipe pequena. Se você ouve três violinos, foi o mesmo cara que gravou e depois dobrou, e depois dobrou de novo o violino. Mas foi também muito, muito espontâneo e quase experimental, no sentido de o Duda levar uma partitura, desses alunos já terem a partitura. Na primeira execução, já funcionava. E quaisquer variações que a gente pedisse, eles conseguiam fazer com referências que iam desde John Williams até Jaspion e até o Guarani, que terminou na trilha, na música do filme. E alguns trechos do filme que já estavam animados e montados tinham essa música que seguia fielmente, que já estava no tempo, e em alguns outros momentos a música era mais livre. Não era submissa à minutagem específica da ação, mas onde a gente encaixava os pontos principais da música que já estava feita, já estava executada, antes de a gente animar de fato, que era para poder ter a liberdade para os dois momentos. Eu gosto muito da música, João. Eu gosto muito do trabalho do Duda e desses alunos.
Esse mês fez um ano da morte de Chico Liberato, um dos precursores da animação brasileira. Na ocasião de sua partida, você fez um belo texto tributo a ele, falando de sua visita à casa dele aqui em Salvador, quando ele falou da mesa que ele tinha. Eu queria fechar esse papo com uma pergunta que pode soar um tanto romantizada. É sobre os horizontes da animação brasileira. Você como representante de uma geração posterior à de Chico Liberato, mas tendo dificuldades semelhantes em termos de produção. Nessa conversa, você falou sobre pessoas que se aproximaram para falar sobre a vontade delas em trilhar esse caminho. Como você avalia esse horizonte para a animação brasileira?
O Chico Liberato sempre foi uma inspiração, apesar de ser tão diferente a qualidade, o perfil do trabalho dele, sempre foi uma referência para mim por fazer os trabalhos dessa forma na qual ele acreditava. Sim, eu fui uma vez à casa dele. A Alba estava lá. A Cândida estava lá. E ele pintava em folhas que estavam crescendo nas árvores do quintal dele. E sempre eram trabalhos que não se submetiam ao que era a Hanna-Barbera da televisão da época ou a Disney da época. Era admirável como era importante pra ele, por exemplo, desenhar nos filmes dele a vegetação que são as árvores que existem na Bahia. Que não são árvores genéricas, nem canadenses, nem europeias. E isso para o figurino, isso para tudo. Nesse momento, depois de AnimaMundi, depois de ABCA (Associação Brasileira de Cinema de Animação), de cursos acadêmicos que estão acontecendo, da produção de séries de longas. Quando comecei a carreira, a referência de 20 anos atrás, há 20 anos, eram 30 e poucos longas, nenhuma série de animação. Hoje, existem esses 40 longas em produção. Existem mais de 80 séries de animação brasileiras que estão no ar. Mais do que isso, que já foram feitas, mas 80 que estão sendo exibidas no momento. Inclusive, várias delas baianas, também. E pela primeira vez no Brasil, hoje, nesse momento de reconstrução política também, a gente tem as cinco regiões produzindo animação. A gente tem vários braços do que é a produção de séries de TV, de publicidade encomendados, de institucionais, de longas metragens, de curtas metragens autorais. Tudo isso está sendo produzido e, ao mesmo tempo, as técnicas 2D, 2D vetorial, 3D, stop motion, e até o tradicional, em projetos com todas essas técnicas que estão sendo feitos. As pessoas estão produzindo graças ao que começou muito atrasado e que tem que ser mantido, tem que continuar, que são as cotas, para tentar começar a cobrir uma lacuna muito grande em animação. Isso é algo muito parecido com o cinema live action: quando você mensura a porcentagem de pessoas pretas ou de mulheres que estão creditadas como direção de animação nesse último século inteiro, é 1%. Só 1% dos títulos de animação do último século são de mulheres. Só 1% de pessoas pretas. E nos dois casos, meio que dos últimos quinze anos. É muito recente isso, também. Para minha alegria, desses longas que estão sendo feitos, quase metade é de direção de mulheres. Então, estamos no que eu, assim, de maneira otimista, vou dizer que é o melhor momento que a gente já teve até agora. Existe como você aprender de maneira autodidata, como foi na minha geração, mas existem cursos livres e existe formação acadêmica. E se a pessoa, ao invés de ir para o mercado, quiser seguir a vida acadêmica, tem essa possibilidade no Brasil. Durante metade da minha vida profissional, se a pessoa chegasse, galgasse a um patamar de animação, tinha que ir embora do país. Hoje, dá para seguir aqui sem precisar sair da região e optando pelo estilo, pela técnica e pela direção que se quer ir. Uma das lutas imediatas agora é pela volta, pela importância da produção autoral. Apesar de eu estar lançando um longa-metragem, continuo entendendo que o formato nobre da animação é o curta, e é fundamental para a qualidade dos longas, das séries, do trabalho encomendado, essa contínua produção pessoal, autoral das novas gerações. Não é uma escada onde você para de fazer o curta e evolui para o longa e para série. Não! É uma estrada paralela para a gente seguir de braço dado. Todo mundo de braço dado e alternando e continuando a fazer essa produção, que é a produção que tornou o Brasil tão respeitado e conhecido num primeiro momento lá fora, que é a produção pessoal, autoral, dos realizadores, das realizadoras de animação.
– João Paulo Barreto é jornalista, crítico de cinema e curador do Festival Panorama Internacional Coisa de Cinema. Membro da Abraccine, colabora para o Jornal A Tarde e assina o blog Película Virtual.