por Marcelo Costa
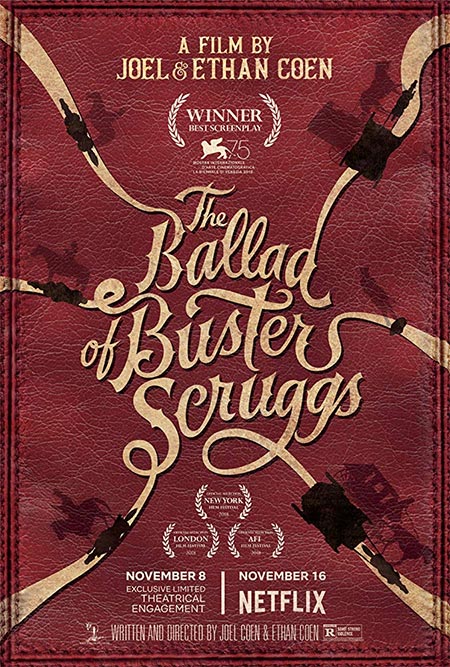
“A Balada de Buster Scruggs”, Irmãos Coen (2018)
Há na filmografia dos Coen ao menos cinco obras primas (“Gosto de Sangue”, “Fargo”, “E Aí, Meu Irmão, Cadê Você?”, “O Homem Que Não Estava Lá” e “Onde os Fracos Não Têm Vez” – eu sei, eu sei, você gostaria de incluir “O Grande Lebowski” na lista) e a última delas (a mais badalada no Oscar, por ter levado Filme, Diretor, Roteiro e Ator em 2007) data de 11 anos atrás. A sensação é de que após alcançar o Olimpo cinematográfico, os irmãos passaram a levar a carreira numa terceira marcha segura, sem grandes riscos. Claro, há filmes bons posteriores a “Onde os Fracos Não Têm Vez”, como “Um Homem Sério” e “Inside Llewyn Davis”, mas nada que arranhe o brilho do Top 5 (ou 6?) acima. Bem, um aviso: não é “A Balada de Buster Scruggs” que irá corrigir isso, mas, ao menos, o filme não é uma tolice tosca do nível de “Queime Depois de Ler” e “Avé, César”. Em seis episódios independentes amarrados pela temática western, os Coen constroem uma obra estilosa e bonita, ainda que às vezes óbvia. Filmes episódicos sempre trazem o risco do brilho de uma história deixar as outras em segundo plano, mas aqui apenas uma fica abaixo do esperado, justamente a que dá nome ao filme, e outra não cumpre tanto quanto pretende (“The Mortal Remains”). As quatro restantes são grande cinema, algo que os Coen fazem com as quatro mãos amarradas às costas: “Near Algodones” é a mais Coen das seis com comicidade e cinismo afiados e James Franco como um assaltante de banco febril que se apaixona por uma garota na hora errada; a boa “All Gold Canyon” traz o caçador de ouro Tom Waits brilhando num vale enquanto “Meal Ticket” têm Liam Neeson e Harry Melling num conto triste que remete ao momento da história em que o popular superou o erudito. Bonita, imensamente triste e óbvia, “The Gal Who Got Rattled” é o grande filme dentro do filme, uma bela metáfora de que, sim, a vida é uma grande merda. No final, “A Balada de Buster Scruggs” é muito bom entretenimento, mas deixa claro que os Coen estão prostrados na zona de conforto.
Nota: 7

“Springsteen on Broadway”, de Bruce Springsteen (2018)
Em 2016, Bruce lançou “Born To Run – Autobiografia”, volume de quase 500 páginas (resenha aqui) em que repassa sua vida abrindo o coração para o leitor num confessionário literário que explora um itinerário de temores, dúvidas e percalços enquanto pendura discos de ouro na parede e recheia a estante com estatuetas do Grammy (no total são 20). Esta autobiografia foi o ponto de partida de “Springsteen on Broadway”, com o roqueiro lendo trechos do livro em meio a números musicais. Inicialmente, a ideia era fazer oito semanas com sessões de terça a sábado no Walter Kerr Theatre (860 lugares), em Nova York, e ingressos de 75 a 850 dólares. Porém, os tíquetes para as 40 primeiras datas (iniciadas em 12 de outubro de 2017) evaporaram e muitos foram parar em sites de revenda alcançando o valor máximo de 6.700 dólares (mais de R$ 20 mil!). A saída foi reagendar mais datas com o cuidado de favorecer fãs, e, no final, em 15 de dezembro de 2018, Bruce havia feito 236 shows somando mais de 202 mil espectadores. Gravado em dois dias de julho, “Springsteen on Broadway” é irrepreensível e vai muito além do livro (mesmo focando apenas nos eventos capitais do volume impresso) porque Bruce, logo no começo, se desmascara: “Sou uma fraude. Nunca tive um emprego braçal na vida. Nunca trabalhei de 8h às 18h. Nunca trabalhei cinco dias por semana… até agora”, ele diz, e avança: “Passei a vida toda escrevendo sobre a vida nas fábricas, mas nunca entrei em uma”, conta. Logo depois, explica: “Sou o Sr. ‘Born To Run’, sou o Mr. ‘Thunder Fucking Road’, olhem as letras, eu nasci para correr, não para ficar. Minha cidade natal é uma armadilha mortal e hoje… moro há 10 minutos de lá”. Na crítica perfeita do Guardian, Alexis Petridis compara: “Aprendemos aqui que Bruce Springsteen é como Ziggy Stardust, um personagem inventado, mas também aprendemos que o homem por trás do personagem é um prisioneiro do rock and roll que acredita em todas as coisas que ele grita nos estádios lotados”. O resultado de “Springsteen on Broadway” é… grande arte. Uma pena que Philip Roth, que se impressionou com o livro, não tenha visto a “peça” na Broadway, pois ela apenas acrescenta emoção e música à narrativa. E a música é tão poderosa quanto Bruce derramando lágrimas ao lembrar de uma conversa com o pai. Antológico.
Nota: 10
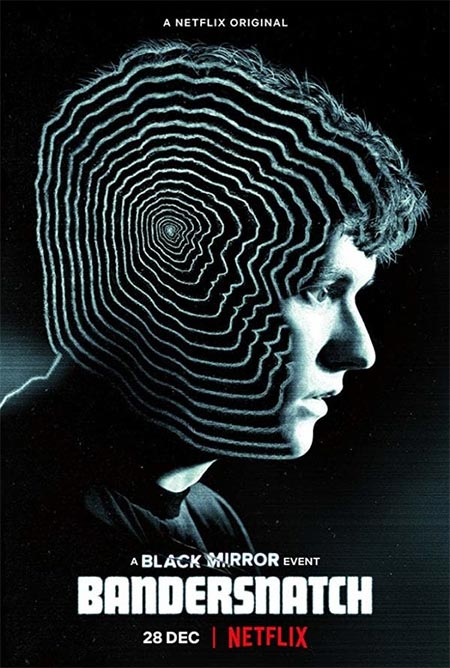
“Black Mirror: Bandersnatch”, David Slade (2018)
Eles acertaram. De novo. O 20º lançamento da franquia “Black Mirror” radicaliza no formato sem esquecer-se da fidelidade provocativa do roteiro, que desta vez coapta o espectador com interatividade dando a ele a ideia convidativa de que aqui ele passa a decidir a trama movendo os personagens como se controlasse fantoches quando, na verdade, ele é o verdadeiro fantoche dentro de um grande “jogo” – um tema caro a uma série que questiona vorazmente o poder incontrolável da tecnologia. A primeira grande sacada de “Bandersnatch” é romper com o velho mundo da televisão clássica, pois aqui não adianta você conectar seu computador a um aparelho de TV e dar o play sem ter um mouse a mão para interagir nas decisões que serão apresentadas na tela. Ou seja, diferente de toda programação tradicional da TV, “Bandersnatch” foi feito para ser visto em desktops, laptops, celulares e Smart TVs, e se a TV já era algo obsoleto nesses tempos digitais, após “Bandersnatch” ela envelheceu alguns séculos. E isso é só o formato. No roteiro, um jovem prepara um game baseado em um livro. Ele sofre de um trauma de infância, está estafado com o trabalho e, por mais que o espectador tente amenizar seu fardo, o destino será imutável. A rigor, se seguir um caminho “direto”, o episódio pode durar 90 minutos. Se optar por caminhos mais “curtos” e saídas mais “fáceis”, o espectador poderá terminar “Bandersnatch” em apenas 40 minutos, deixando 110 minutos offlines (isso mesmo: no total de alternativas, o episódio soma 150 minutos e 250 segmentos, mas as combinações podem fazer o espectador ficar até cinco horas “em cena”) e muita informação que o ajudará a mergulhar no todo do roteiro. Fãs fizeram fluxogramas, threads com citações de antigos episódios, saída para finais secretos e sequencias para vários finais, mas “Bandersnatch” é muito mais sobre cada pessoa (e suas escolhas) do que, necessariamente, sobre o próprio episódio. Brincando com o livre-arbítrio, a equipe da série construiu outro clássico, e ainda que “Bandersnatch” não tenha o impacto de “The National Anthen” e a poesia de “San Junipero” (dois dos melhores episódios da série), está entre as melhores coisas que a equipe já produziu – o que o garante no Top 10, pois até “White Christmas”, “o meu oitavo lugar”, os episódios variam entre nota 11 e 15 (em 10). Vou te dizer: é muito Black Mirror. E é sensacional.
Ps. Escolha morrer ao menos uma vez…
Nota: 10
https://www.youtube.com/watch?v=rnrCdi53G7A
– Marcelo Costa (@screamyell) edita o Scream & Yell e assina a Calmantes com Champagne

Ahhh, tem que incluir O Grande Lebowski, um dos filmes mais engraçados que vi. Para mim, top 3 deles.
Preciso ver esse do Bruce.
Nossa, eu achei esse Bandersnatch uma experiência, apesar de válida por trazer esse formato para TV, algo que acontece há um bom tempo nos games, vazia e enfadonha. Aqueles loops chatissimos quebrando o clima. Nos games é muito, mas muito mais interessante.
Achei esse Bandersnatch bem fraco. Essa pseudorevolução, já acontece em outras mídias há muito mais tempo e melhor. Nem se compara aos games.