por Marcia Scapaticio
Professor do Departamento de Cinema, Rádio e TV da ECA/USP, Eduardo Vicente traça um panorama bastante completo da indústria e do mercado fonográfico brasileiro em “Da vitrola ao iPod – Uma história da indústria fonográfica no Brasil” (2015), livro que nasceu como resultado do doutorado de Eduardo, defendido em 2002, e que chega às livrarias agora via Alameda Editorial – Eduardo é graduado em Música Popular e mestrado em Sociologia pela Unicamp.
“A intenção inicial do trabalho era a de discutir o cenário da indústria fonográfica no Brasil a partir dos anos 80”, ele conta na introdução do livro, mas o recorte temporal pretendido foi extrapolado durante a pesquisa resultando em cinco capítulos que abordam desde a organização do mercado fonográfico brasileiro a consolidação da indústria no país, a subsequente crise e a restruturação dos anos 80 e a subsequente segmentação e massificação dos anos 90.
O último capítulo apresenta a dinâmica dos segmentos musicais no Brasil (1965/99), gravadoras e suas associações, mostrando as gravadoras importantes que existiram no país e as entidades que as reuniam passando por todos os estilos musicais (do funk ao rock, do hip hop até a música religiosa) e englobando majors e independentes. Na conversa abaixo, Eduardo relaciona sua análise histórica a questões contemporâneas importantes, como o streaming, o financiamento coletivo, a concentração cultural e a reconfiguração da cena independente.
O modelo de trabalho criado pela Abril Music acabou de vez com o fim da MTV em TV aberta. Mas a gravadora durou 5 anos e reuniu artistas importantes. Como podemos entender a atuação desse tipo de conglomerado midiático? É ruim para as bandas e bom para a indústria?
Não fiz um trabalho específico sobre a Abril Music, mas olhei para ela dentro da indústria dos anos 90. Ela teve duas grandes apostas que eu me lembre: a revitalização do rock dos anos 80 e o forró universitário. Achou que as bandas dos anos 80 poderiam voltar e usou muito o acústico MTV para fazer isso. Exatamente porque ela acabou eu não sei. Um comentário frequente é que a Abril Music aumentou muito os custos de divulgação e o controle sobre as rádios, inflacionando o jabá. E o colapso veio logo no começo da crise da indústria. Foi um sintoma de que a indústria do disco estava entrando em declínio após anos sensacionais. 1996 foi o melhor da história. Podemos dizer que a Abril chegou um pouco tarde na festa pretendendo ser uma “major” – não vejo a Abril como independente –, e não conseguiu segurar a onda nesse momento que era ruim para o mercado. De um modo geral, esse tipo de concentração promovida pelo conglomerado é sempre ruim para o mercado, fazendo com que poucos artistas se evidenciem e que tão poucos gêneros musicais apareçam. A grande indústria pode, ocasionalmente, ter um perfil mais diversificado, distribuir mais música e até ajudar a formar cenas interessantes fonograficamente, o que chegou a acontecer no início dos anos 90, mas de modo geral a concentração é ruim para o mercado musical como um todo e ruim para os artistas.
Das gravadoras indies, quais as mais emblemáticas que existiram (ou existem) no país?
Se eu voltar para o passado a Elenco (gravadora do Aluísio de Oliveira), que vai ser um dos grandes espaços de lançamento da bossa nova; a Marcos Pereira, que gravou e recuperou tradições regionais no Brasil; a Eldorado que seguiu os passos da Marcos Pereira e gravou música erudita. A Gravadora Festa, de um cara chamado Irineu Garcia, que gravava poesia e gravou o primeiro disco de bossa nova em 1958. E mais contemporaneamente a essas, mais médias do que indies, como a Trama e a Biscoito Fino e outros projetos muito interessantes de gravadoras que tentavam lançar discos antigos em CD, relançamentos até outras próximas de cenas locais. É difícil definir mais nomes, mas se partirmos da minha proposição de que o som de cada época é o som que alguém em algum momento decidiu gravar naquele período, quanto mais voltarmos no tempo, mais importante será a atuação de uma “indie”, pois eram momentos com poucas alternativas de registros musicais. Outra gravadora importante de São Paulo foi a Lira Paulistana, o grande momento da cena paulista no começo dos anos 70.
E sobre as majors. O status e as funções são diferentes na indústria brasileira e na inglesa, por exemplo?
Eu falaria de ecossistemas. As majors inglesas estão dentro de um mercado mais estruturado, então colaboram com a diversidade musical ou ocupam um espaço muito específico dentro disso. Por exemplo, os artistas hoje em dia têm que se auto administrar, construir seus públicos e cuidar de si mesmos, podendo gravar seus primeiros fonogramas/discos sozinhos ou com gravadoras e produtores independentes. Caso o interesse por isso for crescendo, uma major pode contratar a banda e dar a ela outro nível de projeção. Você não depende de uma grande gravadora para iniciar sua carreira e entrar no mercado fonográfico, mas se for do seu interesse e da gravadora te tornar um artista de repercussão nacional /mundial, ela está lá para desempenhar esse papel. O que acontece no Brasil é que nós não temos esse ecossistema e um mercado tão mais diversificado. As grandes gravadoras estão interessadas apenas em gravar pouquíssimos artistas e pouquíssimos gêneros musicais e, neste sentido, representaram a morte da diversidade. Na Inglaterra o mercado independente é muito forte. As majors não promovem a diversidade, mas também não determinam o seu fim. No Brasil, o problema é a falta de um ecossistema estruturado.
No livro você comenta a importância do “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, dos Beatles. Recentemente foi publicado um estudo britânico dizendo que em vez do pop (Beatles e Stones) o hip hop teria “revolucionado o índice orientador do pop mundial”, considerando “as mudanças nos rumos musicais das paradas americanas”. Só como exercício, o que você acha dessa análise e da importância da indústria do hip hop?
São momentos históricos muito diferentes. Eu não acho que o hip hop seria possível sem os Beatles, mas não quer dizer que os Beatles sejam mais importantes do que o hip hop. Beatles e Stones representam o momento de invenção da indústria fonográfica como conhecemos. Não é uma indústria de discos para pessoas mais velhas tocando as músicas do cinema ou cantores românticos. Mudou para uma indústria voltada ao público jovem ligado à ideia da contestação. O capitalismo é uma coisa fantástica. Você compra um disco para dizer o quanto você não gosta do capitalismo, o quanto você se opõe ao mundo que está aí, ao regime vigente e aos valores. Você precisa gastar dinheiro para ser contra os valores mercantilistas da sociedade. O rock estava nesse momento de construção da indústria da música em outros termos: para se expressar e afirmar sua identidade dependeu da música de uma maneira nunca vista antes na história do mundo do disco. Num primeiro momento – talvez mais Beatles do que Stones –, deram uma densidade intelectual para o rock que ainda não existia. Antes era uma brincadeira de adolescentes. Com eles assumiu outro status, a vinculação com movimentos artísticos diversos e outra inserção social, uma postura mais engajada, ou seja, é a invenção do que o rock se tornou. Tudo de bom e de mau que o rock tem hoje surgiu nesse momento. Já o hip hop trata de outro instante. Eu estudei um pouquinho o hip hop e li matérias muito legais de como o gênero estava contestando a propriedade intelectual. As grandes ações na justiça contra rappers que estavam sampleando trechos de músicas, todo aquele contexto foi muito importante. Quando ouvi pela primeira vez o Ice T cantando “Colors”, no filme “Colors – As Cores da Violência” (1988) foi um soco no estomago, mas não dá para negar que independente da atitude contestadora do hip hop, questionamentos sobre os direitos autorais e muitos dos valores de afirmação étnica e da periferia, não dá para dizer que não foi incorporado pela indústria e represente hoje talvez a grande fonte de lucro da indústria norte-americana. Sempre tem um potencial demolidor, mas o capitalismo, no fim das contas, sempre vence de alguma maneira. Mesmo quando ele perde ele vence. É essa a minha visão não muito otimista.
Você comenta que a “recuperação da indústria ocorreu muito mais através da venda massificada de uns poucos artistas do que de um fortalecimento da cena musical como um todo”. Sei que é a análise de uma crise específica dos anos 90, mas ela pode ser aplicada atualmente ou esse tipo de recuperação (pautada em grandes artistas) é difícil de acontecer no nosso contexto?
Sim. Sabe, apesar de toda essa conversa sobre a democratização, a internet, sobre como as grandes gravadoras são fraquinhas, desde os anos 80 eu não vejo alguns poucos artistas terem o tamanho da repercussão que uma Lady Gaga, Beyonce, Katy Perry tiveram recentemente. É incrível como esses artistas se afirmaram. Houve até a volta de clipes megalomaníacos. Acho que os vídeos estavam meio em baixa, mas temos outros momentos a analisar. Nós tínhamos a MTV e hoje temos o You Tube, há outros espaços de diferenciação musical que dão um peso importante. Acho que não devemos comprar a ideia de que a indústria se enfraqueceu e através das redes sociais os artistas conseguem conquistar seus públicos e ter carreiras autônomas. Isso também ocorre, mas devolvo a pergunta para quem diz isso: E quantos desses artistas sobreviveram? Quantos dos artistas de grande sucesso hoje começaram em estruturas assim e continuaram nelas? Quantos artistas da internet continuam lá e tem carreiras expressivas e produções novas? Então o cenário reflete a concentração econômica. Se a gente começar a pensar nisso perceberemos melhor o tamanho da importância da Warner, Sony, Universal. Elas possuem menos relevância no mundo da música, por outro lado o Google, o iTunes, a Amazon, talvez sejam as novas majors. Em qualquer caso isso não implica dizer que o contexto da concentração econômica acabou ou diminuiu.
O impacto do rock dos anos 80 é muito lembrado, mas o poder desse grupo se refletiu na indústria? Tratando especificamente sobre rock, houve no Brasil algum momento melhor para o gênero que conciliasse o sucesso de público e crítica?
Nos anos 90. Gosto de pensar – numa brincadeira minha – que o rock dos anos 80 foi branco e dos anos 90 foi mestiço, um rock não tanto das capitais, mas das periferias. Cada cena tem sua importância. A MPB tinha uma visão idealizada do Brasil, uma coisa idílica, apesar da crise era só a repressão política que prejudicava a nossa vida. O resto estava tudo bem. O rock dos anos 80 mostra que não é bem isso. A corrupção, as mazelas sociais estavam muito além da censura e do que a volta da democratização resolveria num primeiro momento. E o rock dos anos 90 está ligado a esse movimento de autoafirmação identitária e local que eu acho do caramba. Não vi um movimento forte assim nos anos 2000. Me incomoda um pouco ouvir falar do Fora do Eixo –amigos do exterior falam muito do Fora do Eixo, parece que eles fazem mais sucesso lá do que aqui – como um espaço mais politizado, de defesa de uma arte que se livre das garras do poder econômico, teoricamente as bandas mais livres, a autogestão. Confesso que uma das coisas que me incomoda é de como a arte não expressa o discurso político. Digo, você pode descobrir que tem uma música de um movimento social que não é muito boa, por exemplo, eu acho que uma música do MST seria uma música do MST. Falando de questões da terra, valores deles. Não vejo no Fora do Eixo e nem em outros movimentos coletivos uma música que expresse isso. A única música atual que eu ouvi mais de perto e que pra mim ainda tem esse tipo de significado é o hip hop. Os artistas com visão interessante são os caras do rap, principalmente de São Paulo, que é de onde eu estou mais perto. Do rock, infelizmente eu não vejo isso momento. Pode existir, mas eu não vi.
Ainda nesse sentido, foi lançado neste ano um livro chamado “Culture Crash – The Killing of the Creative Class”, no qual o autor contraria as previsões otimistas da democracia digital, evidenciando uma concentração cultural. Em sua opinião, a teoria do pesquisador se reflete na situação atual da indústria fonográfica?
O livro expressa coisas nas quais eu acredito. A crescente concentração, pois apesar do discurso é o que nós estamos vendo. Vemos poucos artistas chegarem a essa posição de destaque. Reflete claramente a tendência da indústria fonográfica. Nós vivemos no Brasil – isso é invisível, as pessoas não falam disso –, uma situação que para mim é a seguinte: uma indústria como a da música sertaneja vive de investidores. Não é uma crítica à música (sertaneja) em si. Você precisa ter um investidor na sua dupla, alguém que coloque dinheiro. De um modo geral começa assim. Você precisa de um investimento inicial em luz, som, caminhão, divulgação, figurino. Se não tiver um apoiador e uma estrutura não chega a lugar nenhum. Para você tocar num circuito como o do SESC, que é a salvação para muitas bandas e artistas mais interessantes do país, você também precisa ter chegado num nível de autoprodução significativo. Para chegar aos editais, por exemplo, você precisa conhecer a dinâmica, saber como escrevê-los. Essa talvez seja a qualidade do Fora do Eixo. Então é um mundo onde os espaços são cada vez mais demarcados, mesmos os teoricamente desmercantilizados têm seus filtros. Nesse mundo da música mais comercial e do sucesso isso é muito claro. Eu não acho que em São Paulo tenha alguma rádio que toque música independente de São Paulo. Se a gente começa a pensar nisso – embora as pessoas tendam a considerar a internet mais importante –, a mídia tradicional é um filtro poderosíssimo. E o fim da MTV em TV aberta piorou a situação. Lá havia programas independentes para o rap e para outros estilos. Nós não temos uma crítica musical que ajude a pinçar e valorizar alguns nomes desse caldeirão infinito da internet. O fim das lojas de discos representou o fim desses espaços. Já o fim das grandes indústrias também foi o fim de muitos empregos. As revistas musicais e as lojas de discos ofereciam uma proximidade com especialistas, gente que te mostrava músicas diferentes. Nós fomos perdendo esses intermediários que poderiam nos mostrar o novo, dar uma ideia do que estava rolando. Esse é um aspecto pouco visto da crise e do momento em que vivemos, no qual parece que as pessoas sozinhas vão encontrar na internet tudo que elas desejam e talvez, ao fazerem essa pesquisa descubram que 70% do views do You Tube estão ligados a 30 cliques diferentes ou de nomes produzidos e super bombados com muito dinheiro ou outros que são assistidos só porque são ridículos.
No capítulo sobre os anos 1990 (segmentação e massificação) você diz que “outro fator a marcar o início de década foi a substituição do LP pelo CD”. De certa forma, hoje vivemos o fluxo contrário. Comercialmente, qual o futuro desse movimento tanto para a indústria quanto para os artistas?
Se você menciona o fluxo contrário com o LP voltando e o CD desaparecendo, com toda sinceridade, não dou a mínima importância para isso. Acho que o LP está voltando a ocupar um espaço, mas é sempre um espaço insignificante para o que é a indústria. Acho que em certos espaços e segmentos musicais o LP tem um impacto, mas eu não vejo isso. Embora seja muito bonito, charmoso e romântico, o LP não é democrático. Esse é um primeiro ponto. Custa muito caro e o equipamento reprodutor custa mais caro ainda. Eu não dou muita importância a esse fluxo, embora percentualmente digam que de um ano para o outro as vendas aumentaram em 300%. Na verdade, significa que foi de 0,002% para 0,005% então, em termos de indústria, não levo o vinil a sério. Ele pode funcionar e ser importante num espaço específico. Se o contrário é “nós tivemos a chegada do CD e agora ele está indo embora e o que isso significa para a indústria e para os artistas”, bem, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Um aspecto importante é que a música virou um serviço em vez de um objeto. Vamos dizer que é a ideia de quem acredita nos serviços por assinatura de streaming. Eu tenho um orientando que estuda esse processo e até onde eu saiba nenhum desses negócios efetivamente deu lucro até agora. Então não sei se o futuro da indústria está aí. O futuro da indústria está em várias coisas, mas, basicamente, no controle sobre os direitos autorais, porque essa indústria pode não vender tantos discos, porém é dona de todo o repertório de nossas vidas, da vida da minha e da sua geração. As gravadoras são donas de milhões de fonogramas que não aparecem em games/filmes regravados por novos artistas por acaso. É um jogo para valorizar essa propriedade intangível e incalculavelmente valiosa. As gravadoras também são donas ou parceiras dos canais de distribuição. É por elas que se chega aos lugares que dão visibilidade, desde os filmes até as séries. A indústria pode ter perdido o controle sobre a distribuição, já que a música está sendo distribuída de forma mais irregular. Mesmo isso eu acredito que mudou. As pessoas estão começando a aceitar o fato de pagar um valor para ter o arquivo digital da música. Isso não é necessariamente ruim, na verdade é bom. Agora, se essas novas formas de escuta irão se firmar, se as pessoas vão ouvir serviços de streaming e se a partir desses espaços o novo poderá surgir, pode ser um caminho. Mas a única resposta que eu tenho para dar é: ninguém sabe. A gente só não pode se iludir. O mais importante é não acreditar no censo comum, na historinha de que o futuro será democrático, coletivo e brilhante porque as redes sociais assim o são.
E sobre o aumento do uso do financiamento coletivo para a gravação de discos? Ninguém aponta nada de negativo nesse processo. Em sua opinião é isso mesmo? É um recurso válido e altamente positivo?
É um caminho legal, mas não é uma solução. Na Inglaterra – onde estudei um pouco mais a indústria e comparei a cena de lá com a daqui –, você não só tem outro contexto, mas outra cultura de engajamento do fã com o artista. Lá não temos a ideia: ah, não vou comprar o CD oficial, vou comprar o CD pirata porque quando compro o CD dou o dinheiro para a gravadora. Ao comprar o CD você está acolhendo o seu artista. É a ideia de apoiar. O crowdfunding também é ligado a isso e a outros lugares de exibição. Lá existem centenas de lugares para shows em cada cidade, desde pubs, porões de igrejas, – com uma programação cultural super diversificada -, e outros espaços públicos e privados. Há um circuito independente muito mais robusto no âmbito do mercado e as pessoas pagam para assistir aos shows em todos esses espaços. O crowdfundig é uma solução e é muito legal, mas faz parte do contexto de uma cultura mais fortalecida. Eu acho que nós estamos no caminho oposto do que acontece lá ou desse processo. O fortalecimento do independente aqui está muito ligado à ideia do coletivo e a um discurso de desmercantilização da música, que a música deve estar nos espaços públicos, em espaços como o SESC ou em festivais financiados pelo governo. Na Inglaterra o discurso é bem distinto, embora você não tenha um apoio tão claro para esse tipo de iniciativa, o pessoal se organiza de outro modo. Em São Paulo, por exemplo, o circuito do hip hop funciona assim. Eles se utilizam do espaço público, bibliotecas e centros culturais, mas a partir de uma organização interna. Acho que a relação do fã com a banda é outra, o pessoal compra a música, vai ao show, principalmente neste sentido de apoiar. Nós olhamos pouco para a estrutura da cena. Falamos sobre um artista ou outro, contudo não pensamos nas bases econômicas e culturais desse tipo de produção musical. Acho que a periferia tem uma resposta mais autônoma e menos dependente do estado. Esse é um caminho a se pensar, tendo em vista como as atividades culturais vêm sido financiadas pelo estado e pelas leis de incentivos fiscais.
Como você analisa a empreitada dos músicos montando suas próprias gravadoras e organizando festivais?
No exterior há muitos festivais independentes que se tornaram marcas importantes e eu acredito nesse circuito. A ideia de termos um circuito mais internacionalizado no Brasil seria muito boa para os independentes. Tivemos esse debate no começo dos anos 90 com as bandas discutindo se iam cantar em inglês ou não, porque o grunge levou a esse caminho, já que antes da internet essas coisas também aconteciam. Há o nascimento de cenas locais, muita gente gravando em novos estúdios. Dessa forma surgiu o Mangue Beat e as bandas de rock dos anos 90. Temos que pensar um pouco nisso, pois a internacionalização já está evidente há algum tempo. É um bom momento para repensar essa questão.

– Márcia Scapaticio (www.facebook.com/marcia.scapaticio) é jornalista e mantém o zunindo.tumblr.com. Confira outros trabalhos da Márcia no http://issuu.com/mscapaticio.
Leia também:
– Luiz Valente: “O fim das fábricas de vinis no Brasil foi muito cruel” (aqui)
– Turismo: onde encontrar CDs e vinis em Amsterdam (aqui)
– André Midani libera gratuitamente livro “Do Vinil ao Download” (aqui)
– Mercado de vinil na Argentina vive momento de euforia (aqui)
– Turismo: onde encontrar CDs e vinis em Amsterdam (aqui)
– Comprando vinis com Robert Crumb em São Paulo (aqui)
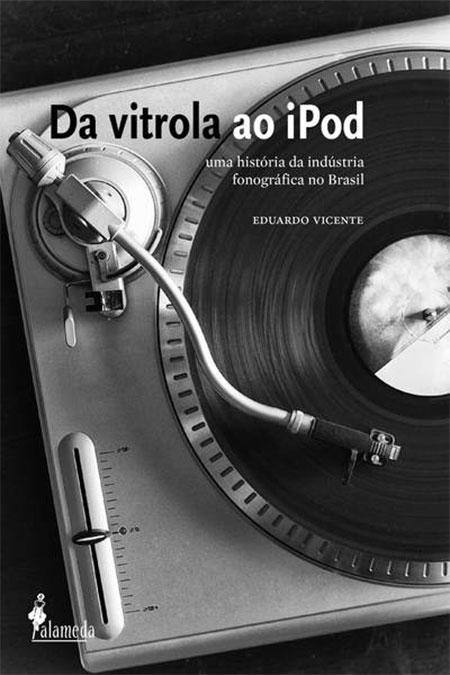
Essa que é a bosta. Você não tem revistas de musica e canais de musica com programas e a “salvação” está toda, a principio, no YouTube. Mas é um maria vai com as outras que me deixa pasmo, envergonhado e preocupado ,porque onde vamos parar com isso? Que nem eu tava lendo o Ricardo Alexandre no Portal R7, e ele fala que o ressurgimento da 89 FM e da Radio Cidade FM, mais o surgimento da Skol Music podem ser a tábua para lançar a solução. Devemos prestar atenção nesses movimentos.