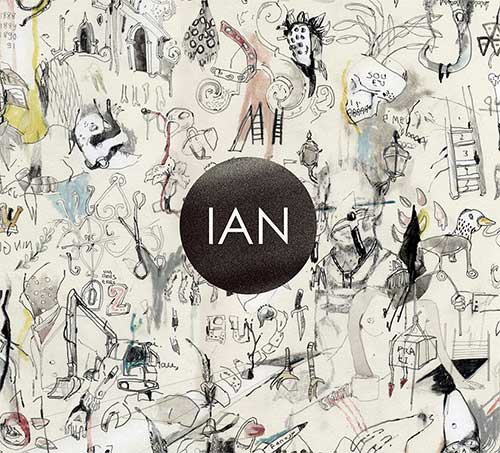
por Alex de Cassio
Lá pelo final dos anos oitenta, entre estúdios fuleiros e pequenos clubes de Los Angeles, vagava uma banda iniciante influenciada por The Clash e Elvis Costello que, como centenas de outras, buscava um cantinho solar. O cantor e principal compositor desta se fazia conhecer apenas por Jake. Corridos mais ou menos uns sete anos, esta mesma banda lançaria um álbum de muito sucesso, com vendagens em torno de seis milhões de cópias, que a alçaria, por um curto espaço de tempo, ao primeiro escalão do mundo pop. A essa altura do campeonato, como assunto secundário, já se sabia o verdadeiro nome do tal Jake. Esta historieta sujeita a pequenas imprecisões e fantasias, pertence a Jakob Dylan e os Wallflowers. Ela parece um ponto de partida razoável para pensar a estreia fonográfica de Ian Ramil, visto que há algum paralelo.
Ian é Ramil desde cedo, nas filipetas de peças de teatro no circuito das artes cênicas em Porto Alegre (onde não obteve êxito expressivo, embora tenha depois estrelado uma série da MTV chamada “Tô Frito”) e também no interessante coletivo “Escuta – O Som do Compositor”, que promovia shows de novos artistas da cidade na Casa de Teatro. Carregar um nome que sozinho remete a um universo de símbolos é tarefa dura, um baita peso no lombo que implica em prós e contras. Entre as facilidades está o carinho e respeito imensuráveis que o pai (Vitor Ramil) conquistou para si – tanto do público, como da imprensa – e que se transfere em parte para o filho, mesmo que em forma de curiosidade ou boa vontade; no extremo oposto fica a desconfiança que esse carinho e respeito transferidos podem causar em muitos. A favor ainda, a bonita mística da família aberta a escolha pelas artes, que aparece clara no incentivo público quando pai e filho se encontram no palco (ocasiões sempre coloridas de orgulho paterno e chistes intimistas); contra, o quanto isso pode alimentar a tentação maldosa de comparar diretamente as obras do Ramil maduro e do jovem (os tios Kleiton & Kledir ficam fora dessa conta opressora; o segundo inclusive participa sem alarde em duas canções do álbum).
Agora tente imaginar se, por ventura, a filiação de Jakob Dylan ganhasse peso nos meios de comunicação antes da chegada à fama, será que ele resistiria ao peso das especulações? Sabe-se lá. Era um outro tempo. A proporção também é outra, claro. Mas a conversação entre os prós e contras apontados acima é inevitável na hora de ouvir, absorver e comentar um álbum como “Ian” (2014), liberado para download gratuito no site oficial do compositor (http://www.ianramil.com/). E além da questão de parentesco, um observador mais atento vai lembrar também que Ian Ramil divide créditos em canções do Apanhador Só.
Na audição do álbum se nota desde a abertura, com “Segue o Bloco”, um dos trunfos do jovem pelotense: a versatilidade da voz e seu timbre excêntrico. Ficando longe da escola Marcelo Camelo de interpretação, a influência do Los Hermanos (para a qual, aparentemente, inexiste imunidade nesses dias) acaba atenuada e diluída. E também nessa primeira faixa aparece, com direito a um solo de trompete mezzo jazzístico bem elegante, os bons trabalhos de metais que se espalham pelo álbum e ancoram vários dos arranjos. Os pilotos são os rodados músicos argentinos Christian Terán (sax barítono, trompete e clarinete) e Santiago Castellani (trombone e tuba). O segundo emprestou a mesma tuba para a releitura de “Sapatos em Copacabana”, de Vitor Ramil, presente no álbum “Foi no Mês Que Vem” (2013), e colaborou com Julietta Venegas no disco “Otra Cosa” (2010). Ambos têm créditos no último esforço do Bajofondo. Suas participações aqui são digníssimas, um grande acerto.
Logo depois vêm “Seis Patinhos”, que em um mundo ideal seria um sucesso comercial imenso, tocaria nas rádios, coisa e tal. Ela começa emulando “Strawberry Fields Forever” no sintetizador, traz uma melodia infantil que fica na cabeça sem chatear, bem preenchida com versos sobre amor e possessão ao mesmo tempo truncados e simples. Algumas das faixas que aparecem aqui ganharam o mundo previamente no ano passado em formato de single digital. A primeira delas, “Zero e Um”, evolui de uma ambientação ligeiramente opaca, nominando duas personagens que não se desenvolvem ou convencem (Lisa e Caio), mas logo evolui e ganha o jogo em definitivo com a entrada do coro. E tem algo na entonação desse refrão (não importa) que lembra positivamente a safra recente do Humberto Gessinger.
Durante a pegada country de “Pelicano” vale reparar melhor na produção. Nota-se que é um trabalho minucioso, feito com paciência. Tudo tão nítido e alto que vem aquela vontade bundona de dizer que nem parece que foi feito no Brasil. E o pior é que não foi mesmo. As gravações aconteceram em Buenos Aires sob comando de Matias Cella (outro que trabalhou com Vitor e também com Jorge Drexler). Já a masterização foi passada para Tom Baker, sujeito que traz na pesada bagagem serviços prestados a tipos variados, de Trent Reznor à Maná, passando por Alice Cooper, Café Tacuba e Judas Priest (!). “Suvenir”, a próxima, passa em branco nas primeiras audições. Só mais tarde se corre o risco de pegar a disco para procurar por ela. Dando-nos mais indícios sobre as intenções do autor, ela foi escolhida para ser o primeiro vídeo clipe (as bonitas imagens completam seu clima monótono e evocativo).
Já “Nescafé” está no centro do trabalho e presente no repertório há tempos. Em termos de arranjo, esta versão soa menos histriônica e juvenil que o primeiro registro do Apanhador Só (na estréia da banda em 2010) e mais atenta ao essencial se comparada aos invencionismos de “Acústico Sucateiro” (K7/projeto do ano seguinte). O efeito dessa simplicidade é fazer saltar aos ouvidos algo que estava parcialmente negligenciado: a força de sua poesia. Já que o Apanhador Só foi citado, “Antes Que Tu Conte Outra” (2013), um dos mais notáveis trabalhos dos últimos anos na música brasileira, tem esse verso: “Ian, tô junto nessa de querer cantar / um verso com coragem, que sirva de bandagem pro que se quer curar”.
Versos corajosos não faltam aqui, nem sempre preocupados com linearidade e sentido, povoados com elementos de infância (diminutivos, animais do bem), idealizações, personagens desajustados, versos em inglês (não em espanhol, que seria a escolha mais óbvia) num resultado que exibe muito mais acertos do que erros. Mas há uma diferença notável entre a lírica dos amigos: distante do espírito gregário que o Apanhador Só alimenta nos shows, com postura politizada e ativa, o jovem Ramil parece mais interessado em solitude e melancolia. Assim está posto em “Entre o Cume e o Pé”: “Não preciso de você, tenho os meus amigos / aliás, eu não preciso de nada, só do meu umbigo”. Ou ainda nesse trecho de “Cabeça de Painel”: “De tudo que eles dizem, pouco eu posso ouvir/ direto aqui do meu porão, que é o lugar onde eu falo um monte”. Nessa faixa, Ian se aproxima do que poderia se chamar “nova milonga”, mas a canção cansa pela repetição do refrão, cuja reunião de palavras soa desconjuntada e desarmoniosa (“eu queria poder sempre ter a cabeça de um cachorro de painel de carro”).
Lá no final do disco irrompe outro fruto da associação com o Apanhador Só, “Rota”, que parece mais em casa no repertório de Ian, embora as leituras sejam equivalentes. Antes dela ainda, duas performances vocais interessantes, uma de nuances suaves em “Imã Ralo”, outra de ímpeto agressivo em “Hamburger”.

Da tão falada abundância de informação a que estamos submetidos via internet, com seus canais para dar pitaco, repercutir e contra partir tudo, ainda não dá para verificar efeitos claros na produção cultural, e frente a ineditismos, resta especular com as pistas dadas. Observando os novos criadores na música popular (vale também para a literatura) é possível perceber a quebra de marcas regionais fortes como um traço mais ou menos geral. O velho Rock Gaúcho, por exemplo, não existe mais. Ao menos não produz novos nomes, nem arregimenta fieis a causa como antes. O lance agora é atirar a bola para o mundo.
Em entrevista recente a um jornal de Porto Alegre, Ian Ramil definiu sua música como livre. Não chega a tanto, mas ela abrange, dentro do formato canônico da canção popular, uma infinidade de elementos e soluções já testados sem nunca deixar parecendo o samba do crioulo doido. Nesse ponto Ian vence: é nessa capacidade de harmonizar o abuso de signos, personalizando os elementos com as ferramentas certas, que está sua força e sinal de distinção entre tantas vozes e intenções; onde tudo é ao mesmo tempo, onde tudo é de graça. “Ian Ramil”, o álbum, tem consistência e surpreende. De quebra realiza um amplo movimento ao criar uma marca que se diferencia claramente da do pai. Resta agora a curiosidade de saber como transportar / adaptar isso tudo para o palco e cair na estrada. É bom acompanha-lo.
– Alex de Cassio (alexdecassio@gmail.com) estuda Letras em Porto Alegre e é livreiro
Leia também:
– Humberto Gessinger: Tu não pode mais ser ouvinte passivo, tem que buscar coisas (aqui)
– Apanhador Só: “A grande mídia domina a cultura nacional” (aqui)
– Cinco vídeos: Apanhador Só ao vivo no Auditório Ibirapuera (aqui)
– “Foi No Mês Que Vem”, de Vitor Ramil, é um trabalho de suspensão temporal (aqui)
– “Otra Cosa”, de Julieta Venegas, mostra que p pop pode ser encantador e inteligente (aqui)
– “Women And Country”, de Jakob Dylan, retrata a desesperança norte-americana (aqui)
Belo trabalho. Conferir no Prata agora.