
por Ricardo Schott
Do trabalho dele partiram um dos mais vastos livros-reportagem sobre cultura pop brasileira, uma das biografias mais reveladoras dos últimos anos sobre um artista nacional, memórias do rock tupiniquim dos anos 90 e lembranças da psicodelia nativa.
Voltando no tempo, fiquei sabendo que existia um sujeito chamado Ricardo Alexandre em 1999, quando li uma reportagem escrita por ele na revista “Trip” – que anos depois ele viria a editar – abordando os 10 anos da morte de Raul Seixas. Não era um texto qualquer: Ricardo largava mão dos estereótipos criados em torno do roqueiro baiano. Pintava o retrato de um Raul confuso, inseguro quanto ao que representava. Ninguém tinha corrido atrás de um dos maiores parceiros do cantor (Claudio Roberto, o cara com quem ele compôs “Maluco Beleza”) para tentar entender o que se escondia por trás do mito. Ricardo largou o óbvio de lado – coisa que muitos colegas de sua geração, sempre atrás da última novidade como aquele cavalo que corre atrás das cenouras penduradas numa varinha, não fizeram – e focou em depoimentos de pessoas geralmente pouco associadas a Raul, como Rita Lee e Wanderleia.
Em 2003, época em que troquei definitivamente a psicologia (minha antiga profissão) pelo jornalismo, me caiu nas mãos “Dias de Luta – O rock e o Brasil dos anos 80”. Não se tratava apenas de um livro-reportagem sobre música. Era o retrato de um país numa época em que ser jovem passou a ser legal – e passou a interessar para o mercado fonográfico. Era o perfil de uma época em que todos os conflitos vividos pelo rock ao longo de três décadas foram sofridos em menos de 10 anos. O volume parecia um verdadeiro transatlântico de ideias e histórias (recortadas e contadas desde os anos 90, quando começou a pesquisa do autor) que foram pacientemente editadas e colocadas lá. Foi a inspiração que precisei no momento em que… bom, em que talvez eu mais precisasse de uma inspiração.
A vocação para surfista de ondas grandes já vinha de outros trabalhos de Ricardo. Partir de uma cidade como Jundiaí, no interior de São Paulo, e avançar com força numa profissão cheia de panelinhas como o jornalismo cultural, talvez tenha sido a primeira delas. Não havia internet e lá ia ele para a capital com uma pastinha cheia de textos debaixo do braço, bater na porta das publicações que lia. Teve mais: aprender na prática, detalhada e pacientemente, todo o funcionamento da gestão de jornais, sites e revistas – e, de uma hora para outra, partir para o comando de redações. Realizar o sonho de editar a revista que ele sempre quis ler, a Bizz. Lançar novos nomes do jornalismo musical e fazer pontes certeiras entre nomes da web (portais, blogs) e as páginas impressas. Escrever, apurar e pesquisar para livros, matérias jornalísticas e documentários sobre cultura pop brasileira. Bom, essa talvez a missão mais complicada, dada a terra arrasada que é a pesquisa da história da música na Brasil. Dada a nossa visão recessiva a respeito de nosso próprio pop. E, em especial, dado o voraz olho gordo dos nossos artistas sobre suas próprias trajetórias, por mais “públicas” e entrecortadas por interlocutores que elas sempre tenham sido. No mais, é o velho “não sonhe em fazer, faça”.
Não se trata só de uma história de produção jornalística, mas de um dos casos raros de jornalistas de gerações recentes a seguir um caminho realmente edificante, dentro de um mercado imerso em choques de ego – e normalmente bem pouco edificante para os que se aventuram nele. Ricardo Alexandre, 39 anos (faz 40 em novembro de 2014), após reeditar “Dias de Luta” e ganhar um prêmio Jabuti com a biografia do cantor Wilson Simonal, “Nem Vem Que Não Tem”, decidiu voltar-se para sua produtora, a Tudo Certo Conteúdo Editorial. Reembalou-se como diretor e roteirista de documentários – o mais recente, “Quando Éramos Príncipes”, repassa a fase mais criativa da carreira de Ronnie Von, na virada dos anos 60 para os 70. Uma pedra que, por sinal, Ricardo já cantara com o auxílio de amigos ligados – como o jornalista Pedro Alexandre Sanches.
A luta diária com as palavras não ficou para trás. Escrito a partir de textos publicados no seu blog pessoal do Portal MSN, o livro “Cheguei a Tempo de Ver o Palco Desabar”, lançado recentemente, traz a sua visão das trajetórias tortuosas de nossa música pop e do nosso mercado fonográfico, do começo dos anos 90 para cá. E, no subtexto, traz mensagens na garrafa vindas de um mundo em que a música podia mudar vidas. Em abril, solta, numa parceria da Tudo Certo com a Tambor Digital, “89 FM: A história da rádio rock do Brasil”, que repassa a trajetória da (recentemente reativada) rádio paulistana dedicada aos altos decibéis, microfonias, overdrives e distorções.
Fui pinçado do mundo dos blogs para a Bizz por Ricardo em 2005, época em que eu fazia o blog Discoteca Básica (por sinal, inspirado numa antiga seção da revista). Até hoje temos um relacionamento cordial que inclui trocas de impressões, alguns bate-papos e alguns freelas. Mas confesso que nunca havia perguntado certas coisas para ele, nem sabia o quanto Ricardo tinha noção de que muitos amigos meus, jornalistas, viviam me falando que se inspiraram na trajetória dele para deixar de sonhar e fazer suas próprias oportunidades nesse meio – sem que a dignidade e a ética de trabalho desapareçam no processo. Procurei um pouco entender essa trajetória – e o pensamento por trás dela – em duas conversas telefônicas. Ricardo me atendeu direto da sua Jundiaí, onde voltou a morar há alguns anos, e onde cria os filhos Lorena (7 anos) e Murilo (4), ao lado da mulher Jane. No papo, os novos lançamentos, muita música, jornalismo e… coisas que o dinheiro não compra. E que muitas vezes não saem no jornal ou na revista.

Como você teve a ideia de fazer o “Cheguei a Tempo de Ver o Palco Desabar”? Você já vinha pensando nisso ou o convite do Portal MSN para ter um blog lá determinou isso?
Acho que tudo veio junto. A ideia desse livro amadureceu com a perspectiva de relançar o “Dias de Luta”, meu primeiro livro. Sugeriram muito que eu continuasse a história do (primeiro) livro, que para em 1992, mas eu lutava contra isso. Não me sentia um narrador adequado para falar do período pós-1992. Quando conversei com o Tito Montenegro (da editora Arquipélago, que reeditou “Dias de Luta” e lançou “Cheguei a Tempo…”) sobre esse projeto, sugeri um livro que de alguma maneira pegasse a história de onde o “Dias de Luta” parou, mas que fosse ao mesmo tempo muito diferente dele. A essa altura do campeonato, eu já tinha migrado da reportagem para uma coisa mais de gestor, entendendo mais o produto em si. Pensei que um formato interessante fosse fazer uma compilação de textos publicados em um blog, que seriam reunidos num livro ao fim do ano. Mas eu queria um blog no sentido mais original do termo, de um diário confessional.
Já que está na moda reclamar de biografias, não teve ninguém que apareceu para reclamar de algo que você escreveu nos textos?
Não, na verdade muita gente até apareceu para falar coisas como “muito obrigado por ter se lembrado da minha banda”. Fiquei feliz, porque na minha cabeça o livro está bastante equilibrado. Não foi feito para detonar ou exaltar ninguém, mesmo que eu não me furte de emitir opiniões.
Você veio de Jundiaí, no interior de São Paulo. Quais eram suas ambições como jornalista quando começou a escrever?
Escrever na Bizz (risos). Nem pensava num plano B ou numa segunda parte. Isso é até meio ridículo, meio difícil de adaptar para a molecada de hoje entender. Eu tinha crescido pensando que as únicas portas profissionais abertas para mim eram ou ser operário ou trabalhar no setor de serviços. Isso era tão claro na minha cabeça que cheguei a fazer Senai e a trabalhar como operário. Estava me preparando para me tornar um metalúrgico. Eu nem tinha contato com o mundo dos serviços, de vendas, supermercado, qualquer coisa assim. Minha família toda trabalhava na indústria jundiaiense.
E aí surgiu sua banda, The Cleggs…
Opa, era Os Cleggs, não era The Cleggs, não (rindo).
Os Cleggs, então. Você pensou mesmo em ser músico profissional?
Não, de jeito nenhum. Não tinha nem impulso de originalidade para isso. Tocava guitarra lá e conseguia, no máximo, extravasar coisas misteriosas que estavam dentro de mim e isso me satisfazia. E talvez ter algum vínculo social. Para você ver, a gente nunca nem se preocupou em gravar nada, nem fotos dessa formação nós temos. Depois conheci um cara que era jornalista, recebia discos e ganhava dinheiro para escrever. Era uma grande novidade para mim, foi quase uma epifania. Depois disso, já estava namorando minha mulher e ganhando dinheiro para escrever, então virei o canal, completamente.
E como era o som da sua banda?
A gente cantava em português, fazia cover de “A Voz do Morto”, do Caetano Veloso. Lembro que a gente chegava aos ensaios e falava até com certo orgulho: “Estamos ensaiando essa música, que foi a última gravação da Aracy de Almeida”…
Se fosse à época pós-Los Hermanos, vocês de repente fariam sucesso.
Olha aí a oportunidade! Os Cleggs ainda existiram depois que saí, e fomos a primeira banda da região. Tinha outra banda que era meio par nossa, que fazia covers de Fields Of Nephlim, era meio gótica. Quando o rock dos anos 90 começa a se configurar, os Cleggs migram para uma parada mais punk rock. Depois tiveram bandas lá de Jundiaí que progrediram de fato. O Burt Reynolds foi uma delas. Eles gravaram o segundo disco da Monstro Discos (selo independente de Goiás) e tocaram pelo Brasil inteiro.
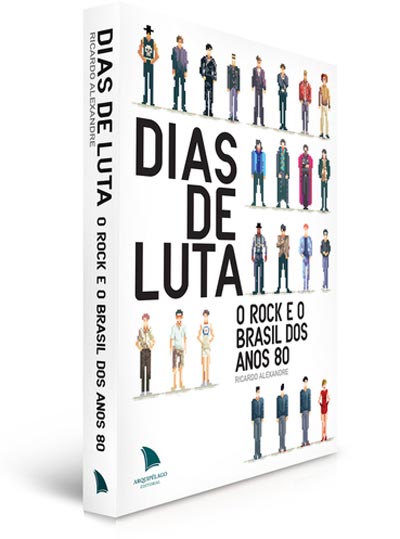
Você sempre gostou de escrever, mesmo antes de ser jornalista?
Eu gostava muito de matérias ligadas à palavra escrita na escola. Aliás, comecei a escrever ainda no colegial. Pensando com o olhar de hoje, havia vários sinais nesse sentido: adorava escrever redações, me sentia muito bem nessas funções. Só não tive aquela coisa de escrever diário.
Você falou que é filho do operariado de Jundiaí. Como foi quando você chegou na sua casa e disse: “Mãe, pai, vou ser jornalista?”. Ou isso nem chegou a acontecer?
Não aconteceu, não. Eu já estava num processo, digamos assim, de distanciamento da minha família. Estudava em Osasco e voltava no fim de semana para Jundiaí. Não havia muita discussão sobre esse tipo de dilema. Tanto que nem considerava a hipótese de ter outra profissão que não fosse a de metalúrgico ou a de trabalhar em serviços. Eu estava me preparando para ser técnico em metalurgia porque era um passo além do que meu pai tinha dado, já que ele era ferramenteiro. Em Osasco comecei a tocar… e nem deveria ter ficado muito claro para meus pais que eu estava montando uma banda para soltar sentimentos represados ali. Motivos sexuais, pessoais, espirituais, etc. Isso só ficou claro para mim quando saí da banda. Aliás, acho que só descobri que estava perdido quando me encontrei. Comecei a escrever num jornal em Jundiaí e, ao mesmo tempo, tinha a bolsa do curso de metalurgia. Era uma graninha razoável, tinha meio salário mínimo e acabou dobrando. Lembro que recebia o dinheiro do jornal em dólar, direto do bolso do editor. Daí para frente optei por trabalhar no que eu gostava mesmo que não ganhasse nada ou que só tivesse um par de tênis para usar a vida inteira. Depois disso, passei quase um ano e meio de voto de pobreza.
Além da Bizz, o que mais você lia?
Eu basicamente aprendi a ler com revistas de música. Um fator primordial para mim foi a morte do John Lennon (em dezembro de 1980). Eu tinha seis anos, estava aprendendo a ler e saquei que havia ali algo muito desolador. Começaram a sair revistas sobre John Lennon, a SomTrês (revista de música e equipamentos de som publicada até 1989) lançava revistas-pôster sobre os Beatles feitas pela irmã do (jornalista) Mauricio Kubrusly. Em cada pôster, havia tudo sobre um álbum dos Beatles. Quando saí dessa fase de beatlemania, me vi dentro do rock brasileiro dos anos 80. Eu tinha também um input muito grande de uns primos mais velhos que eram metaleiros e compravam revistas como Roll e Metal. Estava cercado de informações retrô por causa dos meus pais, e a mídia proporcionava muitas informações sobre os anos 80: “Cassino do Chacrinha”, “Clip-Clip” (programa de clipes da Rede Globo)…
Você chegou a ser fã de heavy metal também?
Eu gostava de algumas coisas: Whitesnake, Metallica, Iron Maiden. No metal, te falo que a coisa mais importante para mim foi a possibilidade de contemplar um subgênero, um universo alternativo. Foi muito interessante quando nos anos 90 o mesmo raciocínio foi aplicado ao grunge, ao noise e outros pequenos universos.
Fã de quadrinhos, de rock… Você foi um adolescente tímido?
Talvez sim… Nunca problematizei isso. Acho que não era tímido o suficiente para ser caracterizado dessa forma, com aqueles problemas de socialização. Eu poderia ser mais facilmente enquadrado na categoria “melancólico”. Acho que eu era mais deslocado do que tímido. É importante que o adolescente tente se incluir mais por suas diferenças do que por sua paridade. Era meio isso que passava pela minha cabeça. Eu também frequentava a igreja e é muito difícil para pessoas que vivam nesse ambiente ter esse perfil de timidez, já que todas, em algum momento, já subiram num palco e cantaram alguma coisa. No domingo passado, meus dois filhos estavam participando da cantata de Natal na frente de duas mil pessoas. Acho que aí só se fosse alguma patologia…
Que história é essa de você ter trabalhado como chapeiro numa escola quando adolescente?
Um amigo da minha família era professor numa escola da cidade e acumulou a cantina. Ele precisava de um garoto que ficasse ali atendendo os alunos no intervalo e na hora em que eles chegassem. Eu tinha uns 13 anos, ia de manhã e de noite. Devia receber o equivalente a uns R$ 200, nem sei ao certo. Mas era uma grana suficiente para eu comprar um disco e um gibi por mês. Viajava para São Paulo, pegava o trem de subúrbio e comprava discos lá. Também ocasionalmente levava uma New Musical Express, com dois meses de atraso.
Você sempre disse ser cristão, em entrevistas e alguns artigos. Como começou seu envolvimento com a religião?
Eu cresci numa família muito temente a Deus. Fazíamos um dia de leitura bíblica por semana, mas não éramos ligados a uma religião específica. Então, justo nessa época em que fui chapeiro, aconteceram duas coisas importantes, no período de um ano. Formei uma banda de rock com dois alunos, que deu origem às duas primeiras bandas do grunge jundiaiense – uma delas, os Cleggs. E conheci outro aluno que era de uma igreja batista no centro da cidade. Emprestei um livro para ele e, quando ele foi devolver, pediu: “Estou fazendo um musical de Natal numa igreja aqui do lado e deixei seu livro no meu armário. Você pode ir lá pegar?”. Fui lá, conheci as instalações da igreja e um pouco da liturgia. E pela primeira vez entendi que era possível haver uma prática religiosa que, digamos, não dependesse da minha estupidez. Foi uma novidade para mim, porque até então conhecia coisas litúrgicas da Igreja Católica, um pouco das igrejas pentecostais – minha avó fazia parte de uma, o que era um pouco assustador para mim. Não saberia direito te explicar, mas acredito que a experiência religiosa acontece se você estiver de guarda baixa o suficiente para deixá-la acontecer.
Em algum momento suas convicções religiosas se chocaram com algo que você viu no mundo da música?
Bom, minhas convicções de fé se chocam com a cultura vigente o tempo todo. Nem falo no ambiente da cultura, mas quando você vai negociar o salário, quando você vai fechar um negócio, abrir uma sociedade… Isso está sempre sendo testado. Porque eu, pelo menos, entendo cristianismo como uma coisa meio contra cultural. A visão que tenho do rock até hoje é uma coisa idealista. Eu encontrava brechas nas quais me enfiava. Outro dia peguei um jornal de 1986 para ler e tinha lá uma matéria enorme com o RPM sobre o disco “Rádio Pirata ao Vivo”. Embaixo, num pé de página, (um texto sobre) o Ira! lançando “Vivendo e não Aprendendo” (ambos os discos são daquele ano). Daí tinha o Ira! falando coisas como “a gente não quer entrar nesse circo pop, não queremos essa roda viva do RPM, queremos só preservar nossas vidas e nossa integridade, estamos nessa pela música” e tal. Eu olhava isso e babava! Me apegava muito nesses códigos de ética.
E hoje esses códigos andam sumidos de circulação…
A gente é traído muito frequentemente por sinais que não se mostram verdadeiros. Eles nos traem, mas ok, a gente também se trai muito frequentemente. Hoje, diria que esse ressurgimento da 89 FM me encheu de ânimo. Deu muito certo, é a rádio jovem mais ouvida de São Paulo e voltou sem nenhum planejamento de marketing. Isso mostrou que o improvável dá certo, às vezes. E isso é a essência do que eu faço.
Quando você olhava para suas crenças e comparava com todo o hedonismo que cerca o mundo do rock, isso também não te chocava?
No livro até falo: a primeira vez em que vi um cara enrolando um cigarro de maconha na minha frente foi meio chocante (risos). Mas não acho que isso me choque mais do que as políticas trabalhistas praticadas dentro de redações. Nem acho que um jornalista cristão fique mais chocado do que um advogado cristão, de repente. Tem uma amiga nossa que é cristã e trabalha na indústria farmacêutica, vende produtos. Aí sim acho que é estar em confronto radical e absoluto, né? Eu costumo dizer que o difícil não é ser jornalista musical e cristão. O difícil é ser cristão.
A revista Bizz está voltando numa edição para tablet. Você comandou a volta dela às bancas em 2005. Faz algum balanço dessa fase?
Foi talvez o período mais rico de aprendizado para mim. Foi lá que me transformei realmente de um jornalista com experiência em edição para um gestor de marca e de pessoas. Tive uma equipe razoavelmente grande. Aprendi a lidar com gente, com marcas, com pessoas de áreas diferentes. Eu era um fã da revista e meu objetivo era deixar uma marca na história dela. Era um sonho até bem pouco ambicioso, porque a Bizz nunca foi uma revista grande. Não era nem uma ambição profissional, digamos assim.
Era algo mais emocional, então.
Era uma coisa que vinha de ter sido fã da revista. Quando fiz aquele selo-slogan, “A revista que mudou a sua vida voltou”, era um selo para mim! Lembro-me de quando conheci o José Roberto Mahr (DJ e apresentador do célebre programa de rádio Novas Tendências). Foi infinitamente maior do que conhecer qualquer artista. Ele, a Bizz, a Rádio 89… tudo isso moldou o jeito como me relaciono com música.
Deve ter sido uma frustração para você quando a revista saiu de circulação em 2007.
Se eu disser que não fiquei frustrado, vou te dar uma resposta errada. Me frustrei, nem por causa da revista ou, digamos assim, por causa do planeta Terra (risos). A Bia Abramo (colaboradora das fases áureas da Bizz) até acalmou meu coração naquele documentário “Jornalismo, Causos e Rock’n Roll” (dirigido por Almir Santos e Marcelo S. Costa, que conta a história da publicação), quando elogiou meu trabalho. Acho que era a revista certa no Brasil errado. Era inadequada para um público que não se relacionava com música do mesmo jeito que a gente, e estava saindo num mercado que também não funcionava com a lógica que gostaríamos de ver. Tratar a música com um nível de proposta estética poderia soar anacrônico àquelas alturas, mas se fosse para fazer uma revista que tratasse a música de modo banalizado, era melhor não fazer.
Honestamente, depois da lista que saiu da Crowley (empresa de monitoração de rádios) mostrando que o rock nacional está praticamente fora das 100 músicas mais tocadas de 2013, você enxerga alguma salvação para o estilo?
Acho que o rock brasileiro não precisa de salvação. Ele, acho, dialoga com a sociedade ou com o espírito da sua época. E esse diálogo fica sempre a mercê de outros contigentes políticos, ou esportivos…
Uma coisa que se relaciona com o próprio cenário do rock brasileiro dos anos 80, em que havia Diretas Já, o fim da ditadura, e protestar virou a regra. Tanto que as gravadoras contrataram bandas como Legião Urbana, Plebe Rude…
É a questão da postura de confronto. Tá certo que essa postura inviabiliza a comunicação, e que o rock sempre foi dependente do cenário e dos elos da corrente nos quais ele estivesse inserido. Se você tem postura de confronto e não tem cenário em volta de você, você fica sempre no underground. Agora, quando você tem uma música de confronto e tem rádio para tocar, ou duas, um canal no YouTube… Era o que tínhamos nos anos 80. O rock não precisa ser salvo. O que pode vir a acontecer – e detecto sinais disso hoje – é a reconstrução de certa plataforma para o rock, que sirva de estímulo para as próprias bandas.
Para além da questão humana, já que morreram dois integrantes, você acha que o fim do Charlie Brown Jr foi uma perda muito grande para o rock brasileiro?
(pausa) O Charlie Brown é uma banda muito bem resolvida, mas cujas ambições artísticas se resumiram ao que apresentaram nos dois primeiros discos. Isso é muito comum no rock, né? Bandas que mantiveram a criatividade por dois discos, um disco, às vezes nenhum (risos). Tiveram toda uma contingência de mercado que durou 15 anos, mas eles não pareciam ter outro horizonte artístico que não fosse a repetição. Dá para perceber isso no disco póstumo deles, “La familia 013”. Em certo sentido foi uma grande perda, sim. Eram artistas talentosos. Mas já tinham contribuído com seu quinhão para o rock.
Não tenho como não te perguntar isso: o que você achou dessa discussão toda provocada pelo grupo Procure Saber?
Acho que isso tudo é fruto de uma mentalidade anacrônica, de controle da informação… Parece coisa de gente que nunca entrou no Google. Aliás, consigo imaginar perfeitamente que o Chico Buarque e o Roberto Carlos nunca tenham entrado no Google.
É o que parece.
É uma mentalidade de pessoas que acabaram de ouvir falar que hoje todo mundo pode publicar sua opinião, e que há um tal de cyberespaço onde todo mundo pode publicar seus comentários… e resolveram tomar medidas truculentas em relação a isso. Por outro lado, tudo o que poderia me irritar ou me constranger nessa história já foi revertido em efeito moral para eles próprios. Nada que esses caras tenham feito exibe mais a ética ou o caráter deles do que isso. Nada do que eles possam querer esconder depõe mais contra eles do que isso.
O engraçado é que se discute muito sobre biografias autorizadas ou não autorizadas e perde-se a noção de que um livro tem que ser, antes de tudo, livre. Imagine o que perderíamos se Gay Talese (jornalista americano) pedisse autorização para escrever “Frank Sinatra está resfriado”?
Se você escreve um livro que tem a colaboração do personagem principal ou de testemunhas que conviveram de perto com ele, ganha em credibilidade em relação a um trabalho construído a partir de terceiros. Uma biografia do João Gilberto feita a partir dos depoimentos dele tem algo que outros livros feitos com base em conversas com outras pessoas, sem o João Gilberto, não têm. O complicado é o trabalho precisar ser submetido ao poder de veto do personagem principal. Eu concordo com o Roberto Carlos quando ele diz que os trabalhos precisam ser negociados. Não concordo quando falam que é preciso ter o poder de vetar, ou que produtos como esses deveriam ser fontes de renda para os personagens.
Na biografia que você escreveu do Wilson Simonal, “Nem Vem Que Não Tem”, você contou com apoio integral dos filhos dele. Acredita que a visão que as pessoas têm a respeito do cantor mudou depois disso e do filme “Ninguém Sabe o Duro Que Dei” (documentário sobre Simonal, dirigido por Micael Langer, Calvito Leal e Cláudio Manoel)?
Uma coisa que é muito significativa é a quantidade de vezes que vi, depois disso tudo, o nome do Simonal ser mencionado sem que se tocasse na história da ditadura. Durante os anos 90, isso seria impossível. Até os anos 2000, ele tinha o, digamos, aposto de ter sido acusado de delator durante o regime militar. Hoje tem gente que vai para a TV discutir o aspecto futebolístico dele, a amizade dele com Pelé, o fato de ele ter sido um grande cantor… E isso veio, claro, muito por causa do documentário, do relançamento dos discos. Durante uma boa parte da minha vida, simplesmente não havia discos do Simonal para comprar. Ninguém relançava, era uma coisa completamente desinteressante.
A Tudo Certo, sua empresa, está agora fazendo documentários. O último foi “Quando Éramos Príncipes”, sobre a fase psicodélica do Ronnie Von. Mais algo em vista?
Bom, tenho o livro sobre a história da Rádio 89 FM, “89 FM: A história da rádio rock do Brasil”. Fiz toda a direção editorial e o texto. Sai em abril, e em paralelo tenho um projeto que é um spin off: 28 anos que mudaram o rock. É uma série que sai dentro da própria 89, com programas especiais, um para cada ano, desde 1985. Vamos colocar as dez músicas mais votadas pelos ouvintes. E em cada episódio dedicado para cada ano vamos receber uma pessoa que tenha a ver com a história da rádio. No meio do ano sai o doc “Quando éramos príncipes” em mídias digitais e o registro na íntegra das dez músicas (da fase psicodélica) que ele gravou com os Haxixins.
Como está sendo passar de jornalista para empresário?
Eu não virei um empresário típico. Acho que isso é o “certo” da Tudo Certo. No caso dos meus trabalhos, tudo o que não é produção de conteúdo, é parceria. No caso do livro da 89, fiz o projeto gráfico e editorial. Mas para a execução, lidar com gráfica, pagar as pessoas – enfim, tudo o que não é conteúdo – convidei a editora do André Forastieri, Tambor Editorial. Nisso, não tenho nenhuma participação e nem quero ter.
Como você vê o cenário hoje para quem quer ser jornalista ligado à música?
Não acho que seja um bom cenário, mas falo isso pensando no jornalismo como um todo. Há uma busca muito grande para que os veículos encarnem a voz de determinado target. A Veja faz isso com vigor. Me impressiona muito que eles passem por cima de certas visões, de certas leituras, para continuarem a ser representantes de determinada classe. Na Carta Capital é a mesma coisa, nas colunas do Lobão e do Reinaldo Azevedo a mesma coisa… Esse jogo em que cada jornal fala para um determinado público, não quero jogar. Não vejo debate nem trânsito de ideias aí. Vejo é uma exacerbação dos nossos instintos mais agressivos em relação ao que não nos é familiar. São pessoas que se engajam numa guerra. É como se as pessoas buscassem fontes para subsidiar sua guerra pessoal. Pô, jornalismo é dar voz a quem não tem voz, consultar tantas fontes quanto for possível. Não é isso.
Como é o Ricardo Alexandre pai? Você incentiva seus filhos a ouvir música?
Eles já têm as predileções deles. A Lorena tem sete anos e já é fã de “Violetta”, aquela série da Disney. Ela pede para baixar o disco, já manuseia o iPad. O Murilo tem 4 anos e meio e também gosta de algumas coisas.
Mas você põe coisas para eles ouvirem?
Olha, uma vez a revista Crescer me encomendou uma reportagem sobre “como impedir que nossos filhos ouçam música ruim”. Passei semanas pesquisando, falando com educadores, artistas, musicólogos. A conclusão a que a gente chegou é que não há como evitar. Eles vão ouvir o “High School Musical” ou qualquer coisa que esteja tocando, porque eles estão na sociedade. Não dá para cercá-los. Você pode oferecer opções, mostrar para eles o que é arte, ensiná-los a reconhecer detalhes do que pode ser considerado belo, digamos assim. Eu não tenho nenhum tipo de política doutrinária, mas no carro eles ouvem muita coisa que a gente ouve. Outro dia minha filha falou: “Coloca aquela música pra mim? Aquela que vai chamando as pessoas, o pai, a mãe, o filho”.
Que música era essa?
É “Down The River to Pray”, da Allison Krauss, que é da trilha daquele filme “E aí, Meu Irmão, Cadê Você?” (dirigido pelos irmãosCoen). Eu estava ouvindo muito essa música. Nem sabia disso, mas a Lorena estava super ligada. Até entendeu a letra. Agora, outro dia eu estava no carro com meu filho ouvindo o “Pet Sounds” (disco de 1966 dos Beach Boys) e entrei numa loucura de que não deveria tirar dele a sensação de descobrir aquilo. Isso aconteceu comigo, quando descobri The Band, Mutantes, Syd Barrett. Lembrei de uma coisa que o David Gilmour (guitarrista do Pink Floyd) falou certa vez, de que ele achava muito frustrante quando ele escutava pessoas falando sobre como foi ouvir “The Dark Side of The Moon” (disco de 1973 do grupo britânico) pela primeira vez. Aí ele concluía que ele mesmo nunca tinha escutado “Dark side of the moon” pela primeira vez. Acabaria acontecendo a mesma coisa com meu filho: ele jamais iria ouvir o “Pet Sounds” pela primeira vez (risos). Tirei do CD player e falei: “Você não vai ouvir isso aqui, não”. Acho melhor que ele descubra por si próprio.
“Dias de Luta” inspirou muitos jovens jornalistas. O mesmo aconteceu com a volta da Bizz, com a biografia do Simonal, com a redescoberta da fase psicodélica do Ronnie Von. Já parou para pensar que você talvez seja um dos raros jornalistas culturais que, do ano 2000 para cá, fez cabeças e mudou o cenário à sua volta?
Olha, não sei nem se sou capaz de pensar nisso. O meu trabalho é fruto do exercício da minha vocação. Minha vocação vem do exercício de me se sentir responsável por alguma coisa. Eu me senti responsável por contar aquela história do Ronnie Von. O fato de essa história nunca ter sido contada me incomodava. E que fique claro que não faço juízo de valor sobre quem não se sentiu responsável por contá-la. Não sei explicar de onde vem isso, acho que é vocação. Meu negócio é me envolver com projetos dos quais eu sinta falta.

– Ricardo Schott (@ricardoschott) é jornalista e assina o http://ricardoschott.blogspot.com.br/
Fotos do texto: (1) Daniel Lenço / Divulgação (2) Liliane Callegari / Scream & Yell
Leia também:
– Podcast: Ricardo Alexandre fala de “Cheguei Bem a Tempo” ao O Resto é Ruído (aqui)
– “Cheguei Bem a Tempo”, um livro sobre abandonar as ilusões mais poderosas (aqui)
– Entrevista: Ricardo Alexandre fala sobre o livro “Dias de Luta” em 2003 (aqui)
– Livro -> “Everyone Loves You When You’re Dead”: olhando os ídolos de perto (aqui)
Cara, que entrevista massa! Mas senti que os Ricardos poderiam ter falado sobre a experiência da revista Frente! , que foi bem legal também. Moro em Manaus e aqui, na época, a Internet não era tão boa, então baixar um álbum era um processo que demorava vááárias madrugadas … Ter aqueles cd’s encartados na revista, e ver aquelas bandas, com aqueles textos, aquelas fotos, com aquela linha editorial, foi muito legal. Parabéns pelo texto!! tá Massa!!! : D
Bela reportagem, eu acompanhei todas as postagens do “Cheguei bem a tempo de ver o palco desabar” no Blog e vou atrásda compilação do livro . No aguardo para ouvir as 10 músicas na íntegra do Ronnie Von com Os Haxixins. Inclusive esse seria um show espetacular para a Virada Cultural, mas acho difícil o Ronnie Von encarar os palcos de novo.
J Eduardo, conversamos um pouco sobre a Frente! com o Ricardo Alexandre no O Resto é Ruído, que está linkado acima. Papo muito bom, viu!
Ricardo Alexandre, André Barcinski, André Forastieri, Pepe Escobar, Fernando Naporano, sempre fui fan desses caras!!!!!!!!
Nossa, lembrei de muita coisa. Não perdia uma Roll. E claro, a Bizz foi escola.
Não tenho nenhuma saudade da Bizz.
Se fosse por ela eu jamais teria conhecido o som de um Baden Powell, de um Dorival Caymmi, de um João Donato… e estaria ainda hoje achando o Echo and the bunnyman uma grande banda.
Muito anglo – saxônica, já foi tarde.
Engraçado, Zé Henrique… eu conheci Baden Powell e João Donato exatamente pela Bizz! E ouvi falar de Dorival Caymmi em casa, mas só fui ler algo sobre o homem também na Bizz…
Acho que voce não leu muitos números, não… Até porque tinha gente que atacava a Bizz por ela dar “muito espaço” a artistas brasileiros…
Ao contrário do Zé Henrique,eu tenho saudades da Bizz e se for voltar em tablet,não faço questão de ler.Primeiro porque tablet é coisa para poucos,ou coisa de playboy mesmo.E outra,nenhuma tecnologia chega aos pés de uma revista bem feita.Sobre o Ricardo tem aquela capa da Bizz em 2006 com o Skank reproduzindo aquele disco dos Beatles em que eles estão vestidos de açougueiros e foi bem legal,dissecando o então lançamento Carrossel.A entrevista também foi bem conduzida e tudo mais.Mas isso veio depois,né?Antes eu achei muito MPB o negocio,muita resenha de disco de MPB,experimental,e tudo mais.
A título de informação, vale citar o editorial desta edição especial da Bizz, presente no endereço: http://bizz.abril.com.br/editorial
“Agora a BIZZ entra na era digital. A publicação ressuscita novamente para se apropriar dos maravilhosos recursos que o século 21 colocou à nossa disposição. O especial que você tem na ponta dos dedos está disponível em três plataformas: tablets, smartphones e desktops”
Ou seja, é possível ler a Bizz além do tablet.
Leo, essa fase mais brasileira foi já no final dos anos noventa e anos 00.
A Bizz clássica, o DNA da Bizz sempre foi rock pop gringo.
Nada contra, gosto muito e não sou xenófobo.
Mas com a riqueza que a música brasileira tem chega ser um crime de lesa pátria aquela Bizz dos Forastieres da vida.
PS: Me lembro da Frente, vinha uns cds bem bons nela. Pena que durou pouquíssimo.
Não sei se foi nela que li uma reportagem muito massa sobre o palhaço Bozo.
Lembro que era uma revista de uns caras de Minas Gerais.
Essa do Bozo saiu na Zero, Zé Henrique.
Bem, eu tinha a coleção completa da Bizz até 1994 (doei estupidamente numa das minhas mudanças), e me lembro de predominarem as matérias anglófilas, sim. Mas lembro que foi por lá que conheci Jorge Mautner, Gal Costa, Jards Macalé e outros, que apareciam desde os anos 1980 (sem falar no rock nacional).
A questão é que, em música, é impossível ser “plural” dentro das limitações editoriais de uma publicação. Dá para pincelar várias coisas (meu primeiro contato com a música latinoamericana, sobre a qual hoje tenho uma coluna aqui no S&Y, foi na Bizz, que me mostrou Niños con Bombas, Fabulosos Cadillacs e o chatíssimo IKV). Mas ela nunca se aprofundou no tema. Como também demorou para se aprofundar no rock brasileiro dos anos 1960, ou no soul dos 1970 (e quando o fez, foi reverente demais, tratando tudo como “clássico”).
Somados prós e contras, acho que a Bizz teve, na maior parte de suas fases, um equilíbrio bem razoável.
É mesmo, Leo.
Na Zero.
Jamais me lembraria desse nome.
Pois então, como eu disse dos anos 90 em diante, pegando carona em Chico Science(que nunca ganhou uma capa sequer), Raimundos…, eles ficaram mais brasileiros.
Mas, repito, o auge da revista(lá pelo final dos anos 80), sua essência, era mesmo ser paga pau de inglês branquelo.
Por isso não tenho a menor saudade.
Engraçado, quando conheci o melhor da música brasileira me deu birra da revista.
Me senti engabelado.
PS: Saiu recentemente uma caixa com 3 cds do Mautner, cara!
Dois deles clássicos.
Imperdível!
Capas da Bizz em 1989 (final dos anos 80)
Janeiro: Rock Brasil 89 (Legião, Lobão, Ira!, Titãs e Kid Abelha)
Fevereiro: New Order
Março: Cazuza
Abril: duas capas -> Picassos Falsos em uma / Legião em outra
Maio: Depeche Mode
Junho: R.E.M.
Julho: Prince
Agosto: Guns
Setembro: Bomb The Bass
Outubro: Engenheiros
Novembro: Titãs
Dezembro: Bjork
Em 12 capas, a única com inglês branquelo é a do New Order (com a cobertura da tour deles pelo Brasil). E 5 das 12 com artistas nacionais.
O Mac nem matou a cobra e nem mostrou o pau.
Ora, cara, é o teor, a linha editorial, digamos assim, que era paga pau de gringo.
Não é porque foi capa que se está falando bem, né?
Além do mais, Depeche Mode, R.E.M, Guns, Bomb The Bass(sei lá que merda é essa, mas deve ser) são “ingleses branquelos”.
Cazuza deve ter sido capa porque estava para morrer e os Titãs devem ter sido ridicularizados.
Se não nessa, em outras.
Até brigaram com a revista certa vez.
E olhe que nessa época os Titãs eram de fato Titãs e não essa bosta que eles se tornaram de uns 15 anos para cá.
Revistinha de, como diria Carlinhos Brown, menino criado com toddynho. Rsrsrrss
O espírito da revista era de classe média que quer ser inglesa ou americana.
A Rolling Stone brazuca – nos seus primeiros anos, deu uma caída – fez mais e melhor que a Bizz.
Se deu mais capas para gringo que brasileiros tem pouco relevância.
É o enfoque que é o X da questão, como diria Noel Rosa.
Outro que se fosse pela Bizz, principalmente aquela dos anos 80, eu ia morrer sem saber que existiu.
“Cazuza deve ter sido”
“Titãs devem ter sido”
Ou seja, você não tem a mínima ideia do que está falando. Cazuza foi capa da edição de melhores do ano e a chamada de capa para o Titãs era: “Titãs por eles mesmos”.
“Não é porque foi capa que se está falando bem, né?”
Nos casos citados, sim. Mas você teria que ter lido para saber, e falar algo sem ter certeza é um dos grandes problemas das opiniões que se julgam balizadas.
A questão toda é contexto histórico. A Ditadura no Brasil silenciou a MPB. Caetano, Gil e Chico, voltaram do exílio fragilizados, e isso refletiu em boa parte da produção dos anos 70, que, sim, tem muita coisa boa (recomendo um especial da Superinteressante dividido em quatro volumes, coordenado pelo Ricardo Alexandre e com textos do Ricardo Schott), mas ficou a margem.
Quando a abertura política começou, a MPB ainda estava acomodada, e o rock nacional acabou sendo o porta voz do fim da ditadura (e da censura, que ainda censurou um monte de gente, de Blitz a Capital Inicial). A Bizz surgiu neste começo, e ao mesmo tempo que apresentava toda uma geração de músicos que não teve cobertura no Brasil por falta de veículos que o fizessem, também abriu espaço para artistas nacionais: nos dois primeiros anos, Gil foi capa, Paralamas e RPM também.
A virada dos anos 80 para os 90, com a chegada da turma do Forastieri (que colocou Ratos de Porão e Sepultura na capa), trouxe consigo Skank, Raimundos, Marisa Monte, Gabriel O Pensador. É uma fase mais crítica ao momento musical brasileiro – que celebra brigas da redação com Titãs e Paralamas, principalmente.
A parte disso, a MPB (e os grandes artistas dos anos 60/70) ainda sofriam com um certo ranço de acomodação perante o regime (o que é normal: só quem estava lá pode dizer como foi), e esse ranço só será quebrado com “Bloco do Eu Sozinho”, do Los Hermanos, que fará muita gente olhar com carinho para o samba novamente, e se seguirá com documentários e relançamentos e redescoberta de toda uma geração que ficou a margem. Isso explica pq o box do Mautner está sendo lançado agora, e não nos anos 90.
A Bizz cumpriu bem o papel dela, se adaptando a cada grupo de redação que teve (e repercutindo o que aquela determinada redação pensava). Poderia ser melhor? Sim, sempre pode. Mas não dá para confundir expectativa com realidade. Porque é complicado esperar que um mousse de maracujá tenha sabor de chocolate.
O contexto histórico que você traz a tona é sempre significativo para isso ou para aquilo, claro.
Mas não dá para tapar o sol com a peneira, cara.
Reafirmo, a Bizz quase sempre foi baba ovo de gringo em detrimento dos brasileiros.
Já cantavam os Titãs – em um sopro da contundência de outrora:
Um idiota em inglês é bem melhor que eu e vocês.
PS: Na minha opinião quem resgatou o samba para toda uma geração( aliás, mais de uma) foi a Marisa Monte e não os Los Hermanos.
Aproveitando a pequena oportunidade: estava conversando com o Ivan Santos, da imof, sobre o Bomb the Bass dia desses. Incrível como aquele disco continua atual – e como é ignorado na hora de apontarem bases para muito do que se faz em música eletrônica nos últimos 25 anos.
Na verdade, o segundo disco do Mautner (intitulado apenas “Jorge Mautner”, de 1974) já havia sido editado em CD em 1994, pelo minúsculo selo Rock Company, sediado na cidade de Porto Ferreira, no interior de São Paulo; e o disco de estreia, “Para Iluminar A Cidade”, foi editado em 2002 em uma edição caprichada pela Universal. Inclusive tenho essas duas edições, mas mesmo assim comprei a caixa que foi lançada há pouco, pela melhor qualidade sonora e por ter o terceiro disco do compositor, que eu não tinha até então.
Engraçado falar de forma um tanto quanto extemporânea, mas não posso deixar de mencionar o Tim Simenon, o qual considero um verdadeiro desbravador no gênero em que ele está inserido (simplifiquemos que seja lá dance music). Os dois primeiros são indeléveis, apesar de certo desprezo por parte do grande público. Nunca me ative a esse fator de aclamação de massas, mas, no caso dele, é algo notório a falta de acolhimento da sua proposta sonora nos dias de hoje.