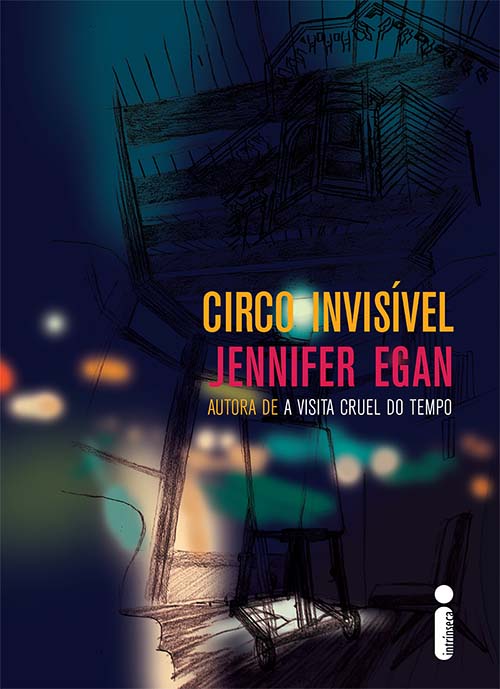texto por Marcelo Costa
1978 em São Francisco. Phoebe O’Connor tem 18 anos, acabou de completar o ensino médio e está prestes a entrar na faculdade. Sua vida, porém, parou no tempo, mais precisamente no começo dos anos 70, quando a perda trágica de sua irmã mais velha, Faith, jogou Phoebe e sua família em uma espécie de limbo, em que a dor da perda se sobrepõe e até cega a inevitabilidade do agora. Phoebe e Faith são as personagens principais de “Circo invisível”, primeiro romance de Jennifer Egan, lançado originalmente em 1995 e agora (20 anos depois) republicado no Brasil pela Intrínseca. O tempo só fez bem à prosa de Jennifer Egan.
Elevada ao posto de bookstar com “A visita cruel do tempo” (romance de 2010 que, entre outros prêmios, levou a escritora a ganhar o National Book Critics Circle Award e o sonhado Pulitzer de ficção), Jennifer Egan delineou sua carreira de modo a não se repetir ao longo dos anos. Assim, enquanto “A visita cruel do tempo” é um romance de várias camadas (a autora gosta de enfatizar que a trama é composta por contos interligados) e “O torreão” (2006) se agarra (e se inspira) no formato de romance gótico, “Circo invisível” é seu romance mais tradicional, tanto na forma quanto na mensagem.
Despida de todas as artimanhas geniais que transformaram “A visita cruel do tempo” em um clássico moderno, a prosa de Jennifer Egan em “Circo invisível” soa mais direta e, por isso, mais universal. Porém, assim como os contos de “A visita cruel do tempo” são intensamente marcados pelo período em que se passa a história, “Circo invisível” é fruto indissociável da visão de Phoebe O’Connor (e da própria escritora, que, em 1978, tinha 16 anos e morava em São Francisco), uma jovem que vivencia o conflito entre as memórias nostálgicas de sua irmã no verão do amor do final dos anos 60 e a longa bad trip que se seguiu nos anos 70.
Não à toa, a primeira citação musical (já tradicional na obra da escritora) de “Circo invisível” é Jefferson Airplane, banda ícone da psicodelia californiana dos anos 60. O álbum “Surrealistic Pillow” (1967) funciona como trilha sonora das primeiras páginas do livro e entrega o bastão na passagem para os anos 70 ao não menos mítico “In The Court of Crimson King”, esforço prog do King Crimson cuja capa, genial e assustadora, soa como um prenúncio da derrocada hippie. Nos anos 1970, por sua vez, ecoam hinos punk, de Iggy Pop a Sid Vicious até nomes underground da cena de São Francisco — como The Tazmanian Devils e Pearl Harbor and the Explosions (ouça uma playlist inspirada no livro).
O título do livro inspira-se em um evento real organizado pelos Diggers, um grupo anarquista de São Francisco que pregava uma sociedade livre combinando teatro de rua e happenings. Durante três dias em 1967 (de 24 a 27 de fevereiro), os Diggers realizaram o Invisible Circus em São Francisco, um evento de contracultura realizado dentro de uma igreja, com diversas atividades (entre shows, festas e debates movidos a ácido e LSD) ocorrendo ao mesmo tempo. Faith participou do Circo Invisível com o namorado, e a memória feliz de Phoebe (ela tinha apenas sete anos na época) ao encontrar a irmã e outros hippies na cozinha de sua casa após o evento contrasta com o desfecho triste da irmã (e dela mesma).

Perspicaz na composição de seus quadros literários, Jennifer Egan coloca seus personagens, tal qual peças de xadrez, em um tabuleiro de fatos históricos. De Patty Hearst, neta do magnata das comunicações William Randolph Hearst (Cidadão Kane, lembra?), que se tornou famosa em 1974 quando foi sequestrada por membros do Exército Simbionês de Libertação, sofrendo lavagem cerebral e juntando-se aos sequestradores num assalto a banco, até Rudi Dutschke (um dos líderes do movimento estudantil alemão nos anos 1970) e Ulrike Meinhof (jornalista fundadora da organização armada alemã de extrema-esquerda Fração do Exército Vermelho), entre outros, Jennifer Egan povoa as entrelinhas com interessantes dilemas morais.
Porém, mais do que uma crítica aos anos 60 (um texto de pós-graduação de uma Ph.D. de Belfast, publicado na página da Associação Britânica de Estudos Americanos, diz que “o trabalho de Egan — em ‘O Circo Invisível’ — não reconhece o impacto real da contracultura dos sixties”, sem se ater ao fato de que a narrativa se passa na cabeça de uma jovem diante da falência de um sonho no final dos anos 70), “Circo Invisível” é, um-dois-três, uma história clássica de redenção: enclausurada (por vontade própria) em uma cápsula do tempo metafórica (o quarto da irmã), Phoebe precisa sair da sombra de Faith, e é isso que move a trama.
Para olhar o mundo com os próprios olhos, Phoebe precisa (sem saber, ou fingindo não querer saber) necessariamente se desapegar da irmã. Faith O’Connor cresceu explorando limites com a intenção de impressionar o pai, um pintor sem sucesso que adorava andar com a turma da contracultura em São Francisco nos anos 1960, mas trabalhava em uma grande empresa para sustentar a família. A influência do pai sobre os três filhos (além de Faith e Phoebe, há um menino, Barry) é enorme, e sua morte repentina é a primeira fila de tijolos desmoronando na estrutura familiar.
Sem seu ponto focal familiar e movida pelo desejo de ir além dos limites das pessoas comuns, Faith se desgoverna (uma situação amplificada pelo consumo abusivo de drogas) sob o olhar admirado da irmã mais nova e parte para uma viagem sabática pela Europa da qual não voltará. Sua morte paralisa Phoebe (“Ela matou nós duas”, desabafa a irmã mais nova em certo momento), que, oito anos depois, recolhe as migalhas deixadas pela irmã (através de cartões-postais enviados durante sua viagem de final trágico) e decide ir atrás de respostas (e de si mesma, ainda que ela não saiba disso) em cada uma das cidades visitadas por Faith numa espécie de via crucis travestida de road movie.
Adaptado para o cinema em 2001 com roteiro e direção de Adam Brooks (que não repete aqui o acerto do ótimo “Definitely, Maybe”, de 2008 — “Três Vezes Amor” no Brasil) e Cameron Diaz no elenco (como Faith), a versão cinematográfica de “Circo invisível” baseia-se em um romance secundário da história reduzindo drástica e penosamente a proposta da escritora em observar a derrocada de uma família diante da morte, um exemplo claro de filme que falha em capturar a alma da obra original. Jennifer Egan propõe muito mais, ainda que tal romance (no geral) e o sexo (em particular) tenham função decisiva (e também metafórica) no desabrochar de Phoebe.

Uma das epígrafes escolhidas pela escritora para abrir “Circo invisível” cita o filósofo alemão Ludwig Feuerbach, que, em 1846, questionava a sacralidade da ilusão (para ele através da essência da religião; para Egan através da morte, do verão do amor e da família): “Para a era atual, que prefere o retrato à coisa retratada, a cópia ao original, a imaginação à realidade, ou a aparência à essência (…), apenas a ilusão lhe é sagrada”. De maneira exemplar, Jennifer Egan expõe um personagem saindo de um coma autoinduzido na busca pelo seu próprio eu. Ao sair da sombra da irmã, Phoebe O’Connor está pronta para olhar o mundo com seus próprios olhos. A expectativa de uma nova década (os anos 80) surge no horizonte. O dia seguinte como metáfora de esperança.
Não deixa de ser emocionante ler Jennifer Egan de trás para a frente: entre a grandiosidade de “A visita cruel do tempo” e a objetividade de “Circo invisível” (separados por nada menos que quinze anos) reside uma talentosa observadora da sociedade, que parece bater insistentemente na tecla de que somos fruto do ambiente em que vivemos, e que, ao se dar conta disso, podemos tatear com mais clareza (a dor e a delícia do) nosso próprio eu. Focado na maturidade — aliás, admiradores de Marcelo Rubens Paiva, fiquem atentos: há vários paralelos interessantes com “Blecaute” (1986) e “Ua Brari” (1990) —, “Circo invisível” deve tanto conquistar fãs de “A visita cruel do tempo” quanto ampliar o séquito. A vida (felizmente) segue.
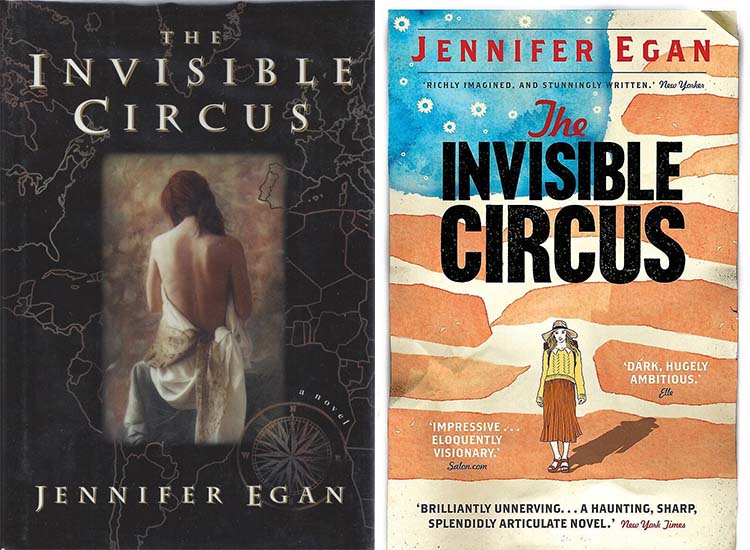
– Marcelo Costa (@screamyell) é editor do Scream & Yell e assina a Calmantes com Champagne.