entrevista por Luciano Ferreira
Doutor em Ciências Sociais, professor da Universidade Federal de Lavras e pesquisador das áreas de Cultura e Consumo, Teoria Social do Gosto e Tribos Musicais, escritor, resenhista e dono do perfil AltRock Brasil no Instagram, Daniel Rezende é um cara que não só respira música como está sempre disposto a falar sobre o assunto. Ele se diz um apaixonado pelo rock e é autor de três livros que são verdadeiro deleite para quem curte ler resenhas, quer se aprofundar na cultura pop e conhecer mais sobre artistas e álbuns: “Rock Alternativo: 50 Álbuns Essenciais” (2018), “Rock Feminino” (2019), e “Neil Young: Um Gênio em 50 Canções” (2020).
“Rock Alternativo: 50 Álbuns Essenciais” (147 páginas) foi o primeiro livro de Daniel, que faz um apanhado, ao longo de cinco décadas, de álbuns considerados fundamentais para entender o rock alternativo, com foco nos EUA e na Inglaterra, mas sem esquecer o Brasil. Na lista, discos de Fellini, Wire, Husker Du, Pixies, Sonic Youth e Joy Division, entre outros. “Rock Feminino” (190 páginas) busca apresentar um painel com algumas das principais artistas femininas no rock desde a década de 60 até os dias atuais. Mais que simplesmente elencar uma série de álbuns, a proposta do livro é mostrar a importância e contribuição das mulheres dentro de um gênero musical marcadamente masculino.
O cantor e guitarrista canadense Neil Young é o tema do terceiro livro de Daniel. Em “Neil Young: Um Gênio em 50 Canções” (137 páginas), Rezende seleciona 50 músicas consideradas as mais influentes e representativas do “padrinho do grunge” num trabalho de imersão na vasta obra do artista, sempre com referências interessantes. Em fase de preparação de seu quarto livro, Daniel nos conta em primeira mão sobre o tema desse novo trabalho e também discute sobre crítica musical, formatos de mídia, morte e ressurreição do rock e, claro, sobre o rock alternativo e Neil Young, um de seus ídolos.

Daniel, você lançou “Rock Alternativo: 50 álbuns essenciais”, seu primeiro livro, em 2018. Quando você teve a ideia do livro já escrevia resenhas? Como é que foi isso?
Eu sempre tive vontade de escrever sobre música. Pensei em ter um blog há uns dez anos atrás, mas não rolou. Em 2016, eu comecei a escrever algumas resenhas de álbuns no intuito de futuramente publicá-las em algum formato. Mas foram poucas. A decisão de escrever o livro foi meio repentina, ao ver as possibilidades de auto publicação pela ferramenta Kindle Direct Publishing, da Amazon. Como sempre fui aficionado por rock alternativo, então a escolha da temática do primeiro livro foi natural. Não poderia existir outro tema com o qual eu tivesse mais familiaridade. Em três meses eu já tinha uma primeira versão do livro pronta.
Sendo um cara que escreve resenhas, você é também um leitor de resenhas? E para além das resenhas, quais leituras/autores te atraem?
Minha leitura diária é de resenhas. Desde a adolescência eu dediquei grande parte do meu tempo livre a colecionar revistas de música como a Bizz. Quando dava, eu comprava revistas internacionais como a New Musical Express, Mojo e Uncut. Com o crescimento da internet, tudo ficou mais fácil, e passei a acompanhar os sites dessas revistas e de publicações exclusivamente virtuais como os sites Pitchfork, Stereogum, Paste Magazine, Brooklyn Vegan, The Quietus, Miojo Indie, Blog do Barcinski, Scream & Yell, e vários outros. Isso foi essencial na minha formação. E leio muitos livros sobre música também. Eu tenho facilidade de escrever, pois sou professor universitário e pesquisador da área de Sociologia do Consumo. Só que a linguagem com a qual eu estou acostumado é muito mais técnica, e eu tive que me adaptar a um estilo mais jornalístico.
Você acredita que o público que consome música ainda se interessa em ler críticas musicais/resenhas ou elas servem apenas para músicos e críticos?
Ainda acho que existe um público que consome resenhas escritas e também no formato de vídeo. Só que as coisas mudaram muito. Antigamente, era muito difícil obter informações sobre um artista que não fossem oriundas de um crítico musical. Já hoje em dia, as redes sociais e os serviços de streaming cumprem também um papel de curadoria. Se esse papel é bem feito e se isso contribui para a formação musical já é uma outra discussão. Para quem já tem uma bagagem desenvolvida ao longo dos anos, o streaming pode facilitar muito a busca por novidades e o garimpo por raridades, mas para quem não se engaja na busca por informações o streaming pode ser limitante. O ouvinte não decide por si mesmo e não desenvolve competência cultural para refinar o seu gosto, ele simplesmente ouve de forma passiva e com baixo envolvimento. A relação com a música fica superficial demais, pois o ouvinte não conhece a fundo a história do artista, o contexto da concepção de um álbum, as influências. Isso pra mim não funciona. (“Big Time”) O novo álbum da Angel Olsen, por exemplo, que foi lançado mês passado. Saber que ela compôs as músicas após ter decidido assumir sua homossexualidade e ter perdido seus dois pais num intervalo de meses faz toda a diferença para apreciar o drama que ela vivenciou e a carga emocional presentes nas canções.
Você acha que “todo crítico musical é um músico frustrado”?
Não posso generalizar, mas no meu caso a frase se encaixa perfeitamente. Eu tentei ser músico durante a época de faculdade, mas minhas limitações são imensas. E não me dediquei com a intensidade necessária para superá-las.
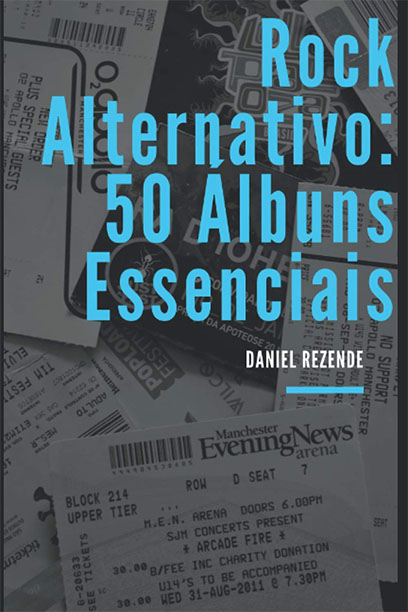
“Uma era de muita informação e pouca profundidade”, está lá no prefácio do ‘Rock Alternativo”. Qual a tua intenção com essa frase?
Tem muito a ver com o que eu falei na terceira pergunta. Em todos os ramos da vida, a facilidade atual de obtermos informação criou uma armadilha difícil de escapar. É lógico que isso tem um lado positivo, é inegável. No entanto, as pessoas tendem a não se engajar como antigamente na busca por mais conhecimento. Elas preferem um resumo, um post breve, um vídeo de alguns minutos, e formam sua opinião com base nisso. As redes sociais são um mundo tão complexo que a gente prefere se inserir em bolhas e, consequentemente, não termos acesso a nada que destoe ou desafie nossas crenças. É um paradoxo difícil de resolver.
É possível perceber certo rigor, no sentido da concisão em teus textos. Esse rigor em relação ao “objeto de estudo”, tem a ver com a tua ligação com o mundo acadêmico ou é algo pessoal mesmo?
Acho que os dois motivos que você citou ajudam a compor esse rigor. O mundo acadêmico nos ensina que tudo tem que ser comprovado e justificado para que se encaixe na concepção de ciência. Foi o que eu quis fazer, por exemplo, na delimitação do que seria o conceito de rock alternativo logo no prefácio do livro. No meu segundo livro, “Rock Feminino”, também busquei deixar bem claro para o leitor quais os critérios de inclusão de artistas que eu utilizei. Ele pode até não concordar, mas pelo menos ele vai compreender as razões das minhas escolhas. E esse rigor já é também um traço da minha personalidade, sou muito organizado e racional.
Ao mesmo tempo você consegue conciliar essa concisão e rigor com uma linguagem totalmente acessível e rica em informações. A que atribui isso?
Procurei seguir meus ídolos da crítica musical. Acho que aprendi por osmose de tanto ler revistas e livros sobre música e sobre cultura pop. E fiz questão de fugir do academicismo e da linguagem rebuscada, pois eu já convivo com isso no dia a dia da minha atividade de pesquisador. Queria me libertar disso.
O interessante em suas resenhas é que elas são tão abrangentes, com uma precisa contextualização histórica, política, social, abrindo portas para o leitor ou pelo menos mostrando algumas portas que ele pode abrir e expandir seu conhecimento. É essa mesmo a intenção?
A intenção foi essa. Tentei balancear o texto: informações e curiosidades eram essenciais, mas senti que era importante dar um toque autoral e colocar a minha interpretação das músicas e das letras. Não queria que as resenhas fossem apenas um compilado de informações (embora essa organização e curadoria, por si só, já sejam relevantes), o intuito foi dar um toque adicional e uma contribuição original.
Dos 50 álbuns listados no teu livro “Rock Alternativo” apenas dois são nacionais, você não acha que isso dá uma certa discrepância no resultado final? Alguma vez você pensou em fazer um livro só com álbuns nacionais?
Esse foi um dilema que enfrentei. Será que seria melhor excluir os álbuns nacionais? Eu achei que eu deveria considerá-los no escopo da mesma forma que todos os outros países. Tem dois brasileiros, dois australianos e só um canadense, por exemplo. A maioria é inglesa e americana, e não poderia deixar de ser assim. Adoro a cena brasileira independente, especialmente da década de 1980 e 1990. Eu vivenciei essa cena, fui a um monte de shows, e já passou pela minha cabeça escrever um livro sim. Quem sabe no futuro? Os dois documentários recentes sobre o rock alternativo brasileiro (“Time Will Burn” e “Guitar Days”) são imperdíveis, não canso de assisti-los.
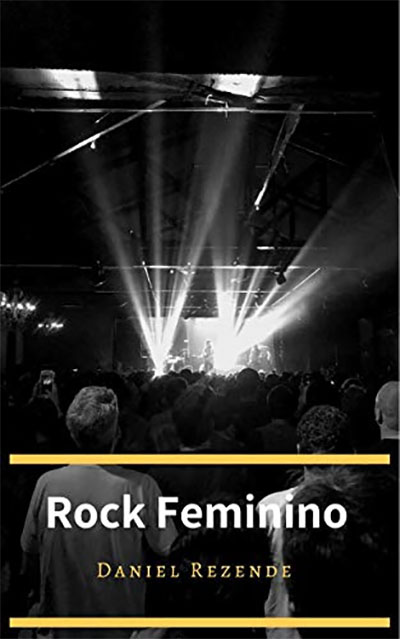
Em 2019 você lançou “Rock Feminino”, seu segundo livro. Como surgiu a ideia para a temática, e comparando com o “Rock Alternativo”, o processo de pesquisa e escrita foi o mesmo?
Desde 2015, com o disco de estreia da Courtney Barnett, entrei de cabeça na cena do indie rock feito por mulheres. Eu já era fã de artistas como Kim Gordon, Kim Deal, PJ Harvey e Patti Smith. Só que o disco da Courtney foi um divisor de águas. Comecei a explorar e encontrei artistas fantásticas: Adrianne Lenker (Big Thief), Snail Mail, Angel Olsen, St Vincent, Sleater-Kinney, e várias outras. E pensei que isso tinha que ser documentado. Ao pesquisar livros sobre mulheres no rock vi que as opções eram escassas. Como em tantos outros campos da vida, o espaço para as mulheres no rock sempre foi limitado e carregado de preconceitos. Então decidi escrever o livro não somente pela minha admiração pela obra dessas artistas, mas também como um manifesto político que retratasse as dificuldades enfrentadas por elas ao longo da história e os feitos que elas alcançaram. O processo de escrever esse livro foi bem mais longo e trabalhoso, pois eu tive que sair da minha bolha indie e buscar artistas relevantes de todas as vertentes do rock. O aprendizado foi incrível!
“Rock Feminino” começa a partir dos anos 60, com as Ronettes. Em termo de gêneros, considero com maior amplitude do que “Rock Alternativo”. Você tem essa percepção?
Sim. A intenção foi essa. Tem soft rock, hard rock, punk, rock de arena… Só que ainda assim eu talvez tenha deixado a desejar por não ter incluído artistas de alguns gêneros, como o heavy metal. Quem sabe numa edição ampliada no futuro eu consiga tornar o livro ainda mais abrangente?
Apesar do rock ser um espaço dominado essencialmente por homens, artistas como Kurt Cobain, por exemplo, sempre se posicionaram contra o machismo reinante. Recentemente, até o Robert Plant declarou ter arrependimento de algumas canções. Você acha que ainda existe certo tabu em relação a isso dentro do rock?
Com certeza. Mesmo no punk e no rock alternativo (que, na minha opinião, são mais abertos e acolhedores do que o rock tradicional) a misoginia ainda está muito presente. Pode até ter melhorado de alguns anos pra cá, mas ainda é uma situação revoltante. Tem um relato assustador no livro sobre o disco “Dig me Out”, do Sleater-Kinney (da coleção 33 1/3), que descreve como os técnicos de som dos locais em que elas iriam tocar desprezavam totalmente a capacidade que elas tinham de opinar sobre questões técnicas. No Brasil, esse machismo na cena roqueira foi muito bem retratado no sensacional documentário “Faça Você Mesma”.
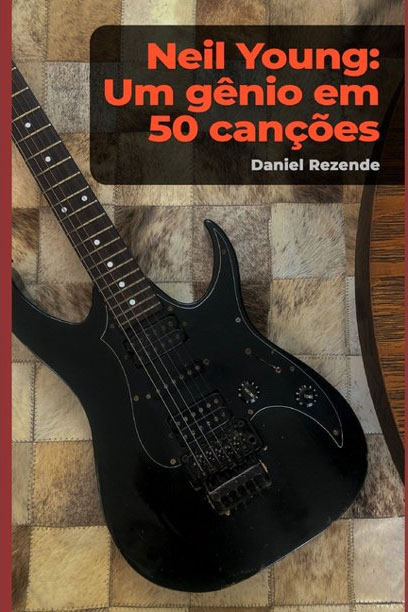
Veio 2020 e você lançou ‘Neil Young: Um Gênio em 50 Canções”. Por que Neil Young?
Porque ele é o meu maior ídolo. Simples assim. Se eu tivesse que escrever sobre um artista, minha primeira opção seria ele. E foi. Admiro o fato dele se posicionar politicamente com firmeza (mesmo que não concorde com tudo), a integridade artística e a história de vida do cara. E quase tudo que eu gosto em termos musicais tem a ver com a obra dele: muita intensidade, aversão ao preciosismo técnico e uma abordagem crua que valoriza a espontaneidade e o improviso. E optei por contar histórias da vida e a carreira dele por meio das canções mais importantes compostas pelo cara. Achei que seria fácil selecionar 50 músicas, mas até hoje me arrependo de umas 20 que ficaram de fora e mereciam ter entrado. Achei que a estrutura ficou bem legal. Não é uma biografia linear, mas dá pra conhecer muita coisa sobre a trajetória do artista. E fica num formato ideal para o leitor degustar a obra dele enquanto lê.
Nesse processo de imersão na vida e obra de Neil Young, você encontrou muita informação curiosa, divertida, “cabulosa”. Poderia contar algo de inusitado que descobriu e até foi surpresa?
Foram muitas as descobertas. Uma das mais impressionantes é o fato dele ter composto “Cowgirl in the Sand”, “Down by the River” e “Cinnamon Girl” num mesmo dia, enquanto ardia em febre no quarto de casa. Insano!
Você acredita que ainda é possível que surjam ídolos da envergadura de um David Bowie, Bob Dylan ou do próprio Neil Young?
Acho que sim. Não sei se veremos ídolos desse tamanho ligados ao rock, mas, na música como um todo, estão sempre aparecendo artistas que exercem um grande fascínio nos fãs. Hoje em dia é mais difícil ser unanimidade devido aos meios infinitos de comunicação. Não é como antigamente, em que os Beatles tocaram em horário nobre na TV americana e se tornaram quase que imediatamente uma febre mundial. Além disso, é tudo mais volátil. Muitos artistas recentes gozaram de grande popularidade, mas não conseguiram sustentá-la por muito tempo. É muita novidade aparecendo num ritmo frenético. Mas acho que ainda temos espaço para grandes nomes que consigam atravessar gerações.
Já que estamos falando de Young, impossível não entrar no assunto da retirada das canções do Spotify. Você acompanhou? O que achou?
Acompanhei sim. Acho muito corajoso da parte dele. É uma pena que a grande repercussão inicial não se propagou, e o fato acabou caindo no esquecimento. O cenário de domínio de grandes plataformas no entretenimento em geral é assustador, e nem um cara com o tamanho e a reputação de Young consegue enfrentar isso sozinho.
E esse crescimento ano a ano das vendas do vinil e queda dos CD’s, como você enxerga esses movimentos em relação aos formatos de música? Você tem algum formato preferido?
Acho muito legal o renascimento do vinil e de outras mídias físicas. Pra mim isso reflete muita coisa: tentativa de escapar do meio digital e seus vícios, reconhecimento da experiência única que o formato oferece e até mesmo a busca por distinção social e reconhecimento entre os pares que são fãs do formato. É simbólico, mas também tem uma dimensão funcional (qualidade do som e experiência tátil com a capa e os encartes, por exemplo). Meu formato preferido é o vinil, mas eu não entrei ainda nessa onda de reativar minha coleção. Tenho minha coleção de CD´s como um grande xodó e uso muito o formato digital no dia a dia.
Daniel, teus livros falam essencialmente de rock, um gênero que “morre e revive” constantemente. Como você vê o momento atual do rRock, aqui e lá fora?
O rock nunca vai morrer. Ele perdeu a hegemonia, e isso é natural por causa dos ciclos geracionais. Hoje o rock não representa mais o jovem rebelde, quem cumpre esse papel são gêneros como o hip hop, a música eletrônica e o funk. O que os “tiozões” do rock não conseguem enxergar é que o rock se reinventou e que tem muito artista incrível lançando álbum todo mês. Eu acompanho os lançamentos e fico fascinado por tantos discos bons. Se você está aberto para novos sons e aceita o desafio de sair de sua zona de conforto existe um mundo de música nova boa para ser explorado (seja com o rótulo de rock ou com qualquer outro).
Outra coisa que se comenta é que o rock perdeu seu poder contestador, e que o hip-hop acabou assumindo essa “bandeira”. Você até comentou sobre isso numa outra entrevista. Você é acha que é algo cíclico?
Acho sim. Como falei na questão anterior. Você acha que um adolescente vai querer seguir o que os pais dele acham bom e recomendam? É claro que não. Alguns podem até fazer isso, mas a maioria vai buscar por algo que é diferente (às vezes até oposto) do que seus pais curtiam. E isso é realmente cíclico. E agora temos um fator complicador: a nova geração não se prende a rótulos como as anteriores. Muitos deles são onívoros e transitam entre vários estilos. Qual vai ser o impacto disso no próximo ciclo geracional? Não tenho ideia!
Você pensa em lançar os livros por alguma editora?
Penso sim. Se alguém me der abertura pretendo lançar por uma editora.
Recentemente você comentou sobre uma imersão na obra de Bob Dylan, tem livro novo a caminho? Qual o tema?
Fiz mesmo uma imersão na obra do Dylan. Eu tenho essa mania de escolher um artista e entrar a fundo na obra dele, garimpando até as coisas mais obscuras. Depois do Dylan eu fiz isso com o Van Morrison. Confesso que quando faço isso me dá uma vontade imensa de escrever um livro sobre o tema, mas no caso do Dylan nem cogitei. Já tem tanta coisa escrita sobre ele. Não sei como eu poderia acrescentar algo relevante. Eu já tenho um livro pronto, em processo de revisão. Dessa vez vai sair por uma editora. Depois que finalizei o livro do Neil Young decidi que meu livro seguinte seria sobre um artista brasileiro. E escolhi uma das bandas mais importantes dos últimos anos no rock brasileiro: Los Hermanos, a banda mais amada e odiada do Brasil! O livro é sobre o disco “Ventura”, a obra-prima deles que completa 20 anos no ano que vem.

– Luciano Ferreira é editor e redator na empresa Urge :: A Arte nos conforta e colabora com o Scream & Yell.
