por Felipe Ferreira
O movimento negro escreveu a próprio punho mais um importante capítulo da sua luta, no sábado do dia 05 de maio de 2018, com o lançamento do videoclipe da música “This Is America” do rapper norte-americano Childish Gambino (pseudônimo do ator e roteirista Donald Glove). A riqueza rítmica, o gingado contagiante da melodia e, especialmente, o subtexto por trás de todo arrojo musical, revirou os olhos do mundo pra uma América sem distorções e mordaças.
Em apenas quatro minutos, Gambino dança com sagacidade e um ardiloso deboche na realidade invertida do homogêneo e igualitário sonho americano. Os signos linguísticos e imagéticos dos planos sequências que compõem o clipe questionam a legitimidade da história mercantilizada – pela própria indústria fonográfica, vale ressaltar – durante décadas, e nos incita a perceber a influência que a voz de uma interlocução exerce no relato e na espetacularização de cada contexto.
Essa América do clipe – tirana, racista e gotejada de sangue – é o retrato naturalizado de um Estado onde negras e negros são tratados cotidianamente na vigília de um olhar discriminatório e sob o julgo violento de um tribunal branco, machista e burguês.

A violência permanece, agora readequada a novos mecanismos e camuflada no autoritarismo do distintivo policial que sentencia e mata pela cor da pele. A malemolência distópica do clipe vem acompanhada de uma série de elementos da cultura negra (do blackface criado no século XIX pelo ator branco Thomas Dartmouth ao filme “Corra!” do cineasta negro Jordan Peele) num looping de frames que criticam implicitamente à discriminação racial nos Estados Unidos.
Descalço e descamisado, Gambino se personifica num móbile transitório no tablado de mimeses reativas e referenciais das narrativas invizibilizadas. A objetificação desse corpo negro no estandarte alegórico do exotismo é ressignificada pela perspectiva empírica do protagonista e expõe as marcas do açoite de dentro pra fora, sem a interface hipnótica do touch screen.
O grande trunfo da obra é que ainda que as balas mirem e acertem com destreza as políticas de segregação norte-americana, há um diálogo coletivo com a realidade da negritude numa esfera global. Esse eco amplificado de identificação é fundamental pra unir timbres distintos num mesmo discurso e ampliar a luta.
Paredes concretas, vaidades emolduradas.
Um mês após o lançamento de “This Is America”, Beyoncé e Jay-Z – o casal number one do show business mundial – voltaram aos holofotes lançando de surpresa um novo álbum. “Everything is Love” mais do que dar continuidade a parceria criativa e bem-sucedida do casal, sedimenta uma “Nova Époque” na carreira da cantora norte-americana de 36 anos.
Desde o lançamento de “Lemonade” (2016), Beyoncé assumiu um posicionamento mais incisivo na sua criação musical. As letras passaram a carregar um tom mais político e a linha estética dos videoclipes a reproduzir com pompa e circunstância representações reais da sociedade norte-americana em diferentes níveis sociais, culturais e econômicos (em alternância de ordem) culminando em uma apresentação extremamente politizada no programa de recordista de audiência da TV norte-americana, o famoso intervalo do Super Bowl, em 2017.

O lançamento desse novo trabalho foi potencializado pelo videoclipe da música “Apeshit”. Na suntuosidade do Museu do Louvre, em Paris, o casal Knowles faz uma reverência narcísica ao valor artístico – e comercial, claro! – que suas imagens representam para a plebe do mundo. A auto referência sem falsa modéstia desconstrói os muros da erudição e uma certificação qualitativa excludente.
Escolher o maior museu de arte do mundo é um ato de ocupação além do corpo-espaço. Ao se inserirem no restrito cânone da arte, predominantemente ocupado por obras brancas de artistas brancos, eles se “apropriam” de um território historicamente usurpado e fazem uma reintegração cultural de valores e ancestralidade.
O protagonismo de duas personalidades negras influentes na cena internacional imortalizada das obras de arte, parte do princípio básico de vitrinizar um status de supremacia para rasurar um imaginário de subalternidade. Usando dos mesmos meios para contestar os fins, eles afrontam os interiores que marginalizam lugares.
O colorismo do ballet de dançarinas negras em diferentes tons de pele expõe a paleta de gradações do racismo e como esse resquício da colonização europeia se comporta proporcionalmente a pigmentação de cada indivíduo. O exército de mulheres negras dá as costas a mais uma – dentre tantas – coroações de heróis brancos. Napoleão recebe a coroa, enquanto a Vênus de Milo é tomada por corpos “desalmados” e colonizados ao olhar de uma enigmática Mona Lisa. A famosa obra de Da Vinci fica desfocada no segundo plano do punho cerrado da resistência negra, e no final, é observada por um olhar esfíngico de expressões subjetivas.
O simbolismo do videoclipe confronta o registro estático documental dos livros e a realidade em seu estado vivo. De um lado, o ego racional e exibicionista de indumentária africana, do outro, um imperialismo colonial e hostil. “Apeshit” é uma egotrip representação da mulher e do homem negro na fogueira em autocombustão das suas vaidades.

Essa consciência de poder que alia “lacrar” a uma representação ideológica que descolonize pensamentos é ingrediente escasso nas fórmulas de sucesso das principais cantoras brasileiras da atualidade. Não que todo artista tenha por obrigatoriedade assumir uma postura política e ideológica de forma enfática, mas no momento atual, onde uma onda conservadora e moralista ganha cada mais altitude, se omitir é, no mínimo, ser conivente com as atitudes violentas e repressoras que essa crista nada cristã pode desencadear.
Habemus alma e Deus é mulher.
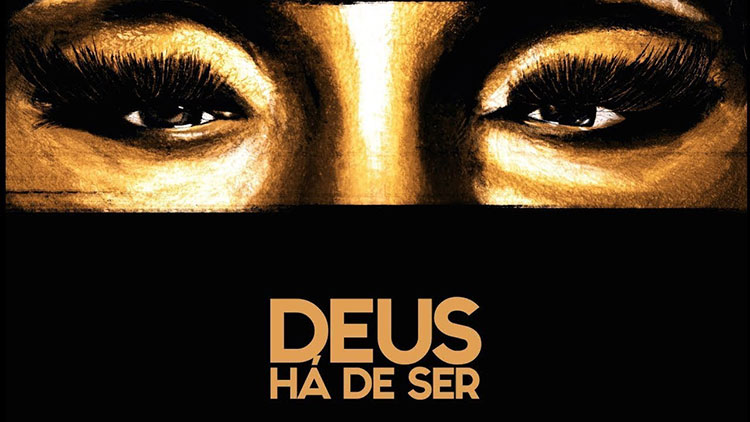
Se o medo de possíveis represálias intimida a verve questionadora da maioria das divas do cenário da música nacional, essa pauta contemporânea – vista por muitos como mero patrulhamento – é parte recorrente na discografia das grandes vozes da nossa MPB. Dentre elas, a estrela radiante de Elza Soares.
“Misturo sólidos com os meus líquidos
Dissolvo pranto com a minha baba
Quando ‘tá seco, logo umedeço
Eu não obedeço porque sou molhada”.
A cantora e compositora carioca de 81 anos, cujo 60 são de carreira, mostra uma desenvoltura que impressiona pela lucidez da sua entrega e do amor a sua arte. Depois do aclamado “A Mulher do Fim do Mundo” (2015), Elza mostra que continuará cantando até o fim e que falar de feridas abertas das quais ela está inserida é uma moviola de transformação, que cabe a consciência de cada artista julgar necessário reverberar (ou não).
No dia 18 de maio ela emergiu na era da força feminina e brindou o público com mais um álbum inédito. Com “Deus é Mulher”, Elza chega ao 33º álbum da sua discografia, e concede toda dor e aprendizado das suas experiências na construção de um álbum que com provocação e independência valoriza a mulher e redesigna a figura sagrada de Deus.
“Minha lagoa engolindo a sua boca
Eu vou pingar em quem até já me cuspiu, viu?”.
As 11 faixas do álbum exprimem os danos da colonização eurocêntrica e a conscientização acerca do nosso lugar de fala (“O Que Se Cala”), as diretrizes educacionais que embranquecem e catequizam o aprendizado da nossa história (“Exú Nas Escolas”), e a conjuntura do feminismo negro cada dia mais amolado e convicto de si (“Deus Há De Ser”). “Deus é Mulher” é uma carta-aberta que caminha na trilha contrária da omissão artística.
Em texto no jornal O Estado de São Paulo, a jornalista Sheila Leirner classificou o afronte megalomaníaco do casal Beyoncé e Jay-Z como um “bacanal narcisista” opositor e vulgar ao realismo modesto e arraigado nas suas origens, retratado no videoclipe do rapper de mil facetas Childish Gambino. Na revista online Vice, a jornalista Amanda Cavalcanti contra-atacou: “Longe de ser narcisista, ‘Apeshit’ é um olhar crítico sobre a supremacia da arte branca e europeia”. Em outro texto, a historiadora Ana Lucia Araujo conectou “Apeshit” com o filme “Pantera Negra” acenando “para as ações de grupos ativistas tal como o Decolonize This Place“.
De fato, o que Estadão, Vice a historiadora Ana Lucia pontuam em margens opostas são extremos de uma mesma América. A causa negra é a mesma, mas o mosaico de alegorias que dilatam essas demandas atemporais é essencialmente antagônico. Beber da fonte capital causadora de toda opressão e segregação é um caminho um tanto arriscado, que pode fragilizar a própria mensagem.
Enquanto o polo norte-americano da força provoca uma cisão audiovisual estratégica, o lado latino banha um clamor agudo e inconfundível no ventre fértil de um sagrado feminino insubmisso que resistirá até o fim do mundo.

– Felipe Ferreira (fb/felipe.ferreira.7127) é escritor, roteirista, jornalista e autor do livro “Griphos Meus: Cinema, Literatura, Música, Política & Outros Gozos Crônicos” (Independente).

MUITO BOA LEITURA.
Obrigado, Marcelo! Ficamos felizes que tenha gostado.