 'Busca o Meu Rosto',
de John Updike
'Busca o Meu Rosto',
de John Updike
Primeiro Capítulo
"Vou
começar lendo para a senhora", diz a moça, uma figura esguia,
toda de negro, tensa como um canivete, pousada na beira da cadeira,
uma espreguiçadeira forrada com um tecido grosseiro de padrão
xadrez já desbotado, com braços largos de carvalho envernizado,
que Hope viu pela primeira vez na varanda da casa de Germantown,
o avô sentado nela lendo o jornal, a cabeça inclinada para trás
para melhor utilizar os óculos bifocais de lentes grossas, mais
de... isso mesmo, setenta anos atrás, "um depoimento que a senhora
fez, publicado no catálogo da sua última exposição, em 1996."
Quando menina, Hope gostava de instalar-se naquela espreguiçadeira
para tentar sentir como era ser adulta, apoiando os cotovelos
gorduchos nos braços largos do móvel, espalmando a mão, os dedinhos
em que havia um anel de gordura em cada articulação, sobre a
cavilha da extremidade do braço delicadamente curvado, uma espécie
de moeda de madeira com uma listra mais clara nela, o lado mais
largo da cunha que apertava a cavilha. Os braços da cadeira
eram tão afastados um do outro que Hope só podia apoiar um cotovelo
e uma mão de cada vez. Ela teria — o quê? — cinco, seis anos.
Mesmo quando ainda era nova, nas décadas de 1920 e 30, a cadeira
era um objeto caseiro, nada glamouroso, espécie de móvel de
jardim, que pegava sol na varanda cheia de janelas, onde havia
um vaso com um filodendro e um escabelo penso, fatiado como
uma torta em cima, dividido em longas seções triangulares de
couro de cores diferentes. Quando, com a morte de sua avó, nos
anos 50, a casa de Germantown finalmente foi desmanchada, Hope
manifestou interesse pela velha espreguiçadeira, e como seu
único irmão ainda vivo não fez nenhuma objeção, até achando
graça de seu pedido, ela a levou para Long Island, instalando-a
no andar de cima de seu "estúdio", onde às vezes tentava ler
à luz da janela voltada para o norte, enquanto um vento forte
vindo de Block Island Sound penetrava pelas frestas e Zack,
no andar de baixo, ouvia seus discos de jazz — Armstrong, Benny
Goodman, um de Beiderbecke muito arranhado — a todo volume;
depois levou-a para o apartamento em que vivia com Guy e as
crianças na East Seventy-ninth Street, no quarto de hóspedes
de paredes pardacentas, junto à serpentina do aquecedor que
emitia sons metálicos incessantes, como se fosse um prisioneiro
enlouquecido, enquanto ela tentava encontrar seu próprio ritmo
com o pincel; por fim, trouxe-a para Vermont, onde ela e Jerry
haviam comprado e reformado uma casa e nela se instalaram para
ali viverem seus últimos anos, uma cadeira que, embora transportada
da úmida Pensilvânia para um clima mais frio, mais alto, não
destoava de modo algum daquela sala de visitas simples, austera,
de teto baixo, os pés da frente sobre o tapete oval de trapos
trançados e espiralados, os de trás nas tábuas corridas pintadas
de um vermelho-escuro brilhante, cor de cereja, os tons de marrom,
verde e carmesim do forro xadrez cada vez mais esmaecidos, fundindo-se
num pardo uniforme, à luz azulada tênue daquela região montanhosa
no início da primavera. Estranho, pensou Hope, como os objetos
nos seguem de um lugar ao outro, mais fiéis que os amigos orgânicos,
que nos abandonam quando morrem. A casa de Germantown ficou
submersa em vegetação nos últimos anos de vida solitária de
sua avó, as paredes espessas de granito engolidas até a altura
do patamar das janelas do segundo andar por arbustos escuros,
hortênsia, azevinho e uma anacardiácea cujos galhos se quebravam
cada vez que chovia granizo ou neve úmida, o caiado e a argamassa
se desprendendo em pedaços compridos que se esfacelavam e sumiam
em meio aos caules das peônias e às raízes dos azevinhos. Hope
adorava morar lá quando pequena, mas depois que seus pais se
mudaram para Ardmore ela estranhava a casa quando ia visitar
a avó, achava sinistro o pinheiro enorme de ramos pendentes,
a grama macia do quintal com seu cheiro quente de estufa, o
balanço que seu avozinho tão ativo — a primeira pessoa a morrer
entre as que Hope conhecia — havia pendurado no galho da nogueira
apodrecendo, tanto as cordas quanto a tábua, num abandono eterno
que a assustava.
A moça, aquela lâmina nova e estreita instalada na bainha gorda
e velha da espreguiçadeira, com sua voz tensa de nova-iorquina,
uma voz que também se inclina em direção a Hope com a pressão
da ansiedade, mas também com o que parece, à luz trêmula da
velhice, uma espécie de afeto filial, lê: "Há muito tempo levo
uma vida de reclusa, temendo as provas da inexistência de Deus
que abundam no mundo. O mundo, pouco a pouco me dou conta, é
multicolorido como o Demônio, e não puro. Nas telas que pinto
atualmente uso apenas tons de cinza cada vez mais próximos um
do outro, tal como logo antes do amanhecer, antes do momento
em que a luz começa a surgir nas bordas. Estou tentando, talvez,
pintar a santidade. Creio que deveria me sentir lisonjeada quando
alguns críticos dizem que esta minha fase é a melhor de todas
— comentam que finalmente consegui me libertar da sombra de
meu primeiro marido. No entanto — coisa milagrosa, poderíamos
dizer — já não me importo com o que eles pensam, nem com a imagem
que fazem de mim as pessoas que não conheço. Fim da citação.
Isso foi há cinco anos. A senhora diria que continua sendo verdade?"
Hope tenta desacelerar a moça, falando com uma voz arrastada,
como se pensasse. "É verdade, sim, ainda que pareça um pouco
melodramático. Talvez ‘temendo’ seja excessivo. ‘Sentindo receio
e aversão em relação às provas’ talvez fosse mais correto, e...
mais decoroso."
Hope sente um nó na garganta diante da presença daquela intrusa
com sua agressividade nervosa, seu rosto pálido de citadina,
suas mãos de dedos longos com unhas pintadas de negro e seu
traje rigidamente negro — suéter negra de gola rulê, casaco
de couro artificial negro com um zíper grande no meio, cabelo
negro preso por um par de travessas curvas, de prata, e caindo
solto e sedoso às suas costas, como um leque — terminando num
par de calçados pesados e assustadores, quadrados, que mais
parecem botas de combate, com cadarços que passam por mais de
uma dúzia de ilhoses, formando duas pequenas escadas negras
que sobem até as bocas-de-sino das calças, feitas de um tecido
de textura fina, levemente espelhado, um tecido que Hope nunca
viu antes, um tecido sem nome. As botas, com aqueles saltos
altos que estão usando agora, largos quando vistos de lado porém
estreitos quando encarados de frente, não devem ser muito confortáveis,
a menos que agora as mulheres sempre se sintam confortáveis
quando parecem homens. Estamos num novo século — mais assustador
ainda, num novo milênio. Esse fato é para Hope uma grande porta
opaca que se fechou de repente, separando-a de toda a sua vida,
como se fosse uma criança a sufocar dentro de uma geladeira
abandonada.
A voz da visitante, insistente, com uma certa irritação, mas
também com uma flexibilidade feminina, insinuando-se nos ouvidos
de sua presa, afirma: "A senhora foi criada como quacre". "Bom,
mais ou menos. Meu avô era elder, sim, mas meu pai, principalmente
depois que nos mudamos para Ardmore, só freqüentava as reuniões
uma ou duas vezes por ano. Os Ouderkirk eram quacres holandeses;
foram quacres holandeses que fundaram Germantown — aliás, um
nome impróprio, pois devia se chamar Dutchtown, assim como os
chamados holandeses da Pensilvânia na verdade são alemães. Havia
bolsões de quacres holandeses no vale do Reno; os Ouderkirk
eram de Krefeld; o próprio William Penn os visitou na década
de 1670, e lhes falou sobre a sua bela colônia, seu ‘sagrado
experimento’ de além-mar. Quando vieram para a América, na década
de 1680, alguns deles moraram em cavernas até conseguirem construir
casas. Minha mãe, porém, era bem episcopaliana, não muito religiosa,
como todos eles, mas jamais se consideraria indiferente à religião.
Nós todos participamos de umas poucas reuniões quacres, eu era
menina e tenho a impressão de que foram muitas, mas para uma
criança um pouco é muito. O que mais ficou na minha memória
foi a luz, e o silêncio, aqueles adultos todos esperando que
Deus se manifestasse através de um deles — tosses reprimidas,
pés mudando de posição, um banco rangendo. No começo eu ficava
meio constrangida, você sabe como as crianças sempre se envergonham
pelos adultos. Depois o silêncio se transformou, dobrou uma
esquina, como se um anjo passasse, e me dei conta de que aquilo
era uma espécie de jogo simpático. Os Amigos falam em ‘silêncio
vivo’. Mas acabou que alguém falou. Tinha sido combinado. Os
quacres combinavam essas coisas, sim, mas sempre deixavam um
espaço para que Deus, por assim dizer, perturbasse o que havia
sido combinado. Havia uma cortesia refinada naquilo. Antigamente
havia um banco na frente para os elders e os ministros, mas
no meu tempo de criança, deve ter sido no final dos anos 20
ou no comecinho dos anos 30, porque em 1932 eu já estava com
dez anos, os bancos eram dispostos de modo a formar um quadrado,
para que ninguém ficasse em posição de destaque. Se bem que
meu avô nunca nos levava para os bancos lá de trás."
Cale a boca, Hope diz a si própria. Sempre teve esse defeito,
falar, dar, flertar, se esforçar demais para agradar os outros,
tentar seduzir. Seu avô usava uma expressão quacre, "da criatura",
para se referir a qualquer coisa que fosse excessiva, humana
demais, mundana demais, egoísta e cruel demais. A guerra era
da criatura. A concupiscência e a intemperança, é claro, mas
também a razão, o excesso de saber e de discussões. As artes
— exceto as domésticas, a arte edênica da jardinagem e a arte
secreta de ganhar dinheiro — eram da criatura, eram gritos animais,
pedidos de reconhecimento e singularidade. As coisas da criatura
eram fracas, sujas, indignas; eram uma forma de ruído. Quando
criança, Hope falava demais, sentia que seu rosto redondo e
sardento ficava vermelho de animação, o coração batendo até
quase estourar, e toda ela, dentro das costelas, de alto a baixo,
do couro cabeludo às solas dos pés, queria que a amassem, que
a pegassem, que a desejassem. Ainda hoje, já a um passo do túmulo,
tendo completado setenta e nove anos no mês passado, maio, está
tentando seduzir aquela desconhecida esguia, toda de negro,
muito embora saiba que nada mais tem de sedutor, com aquelas
calças de veludo cotelê marrons, largas demais, a suéter de
algodão cuja gola rulê já está frouxa, a camisa de lã grossa
para fora das calças, como se para ocultar a barriga, mas na
verdade chamando a atenção para ela; a barriga é proeminente,
mas os seios e as nádegas estão caídos, por baixo daquelas roupas
ela parece uma daquelas bruxas nuas de Schongauer, acompanhadas
por um séqüito de criaturinhas, os demônios da artrite, ou então
a sonhadora Saskia de Rembrandt, com algumas décadas a mais
de rugas e pelancas. Sua franja de um castanho avermelhado lustroso,
que foi sua marca registrada quando jovem, não está mais grisalha,
e sim branca, tão rala e seca e sem vida, cada fio apontando
para um lado diferente, que não passa de um arremedo daquilo
que outrora cobria sua testa como se fosse um elmo de cobre,
liso e arredondado. Naquele tempo usava o cabelo curto, duas
pontas que se curvavam tocando os ângulos do maxilar, o queixo
largo que definia o pentágono claro que a encarava do espelho
com uma tranqüilidade enganosa, os olhos castanho-claros, de
íris rajadas, a olhá-la com firmeza, o nariz pequeno e reto,
os lábios não exatamente cheios, porém bem delineados, que a
troco de nada expressavam uma atitude receptiva, riam, sorriam,
até mesmo de sua imagem a contemplar, tão séria, o próprio rosto
no espelho, uma covinha a saltar para cima na face esquerda.
Quando criança, ficava intrigada pensando aonde iria seu reflexo
quando ela se afastava do espelho; nas paredes da casa de Germantown
havia espelhos que eram como pinturas sempre a se modificar.
Os anos 60 a libertaram do batom e daqueles permanentes das
duas décadas anteriores, bem como das cintas e ligas; Hope deixou
o cabelo ficar comprido, caído sobre as costas, prendendo-o
rapidamente num rabo-de-cavalo para pintar ou fazer trabalhos
domésticos, tinha toda uma coleção de prendedores engenhosos
e travessas redondas, de tartaruga, de marfim, no tempo em que
a extinção dos elefantes ainda não era uma questão política.
O fantasma grisalho desse rabo-de-cavalo pende neste momento
da base de seu crânio, preso por um daqueles elásticos de cores
vivas, cores de balas, que estão à venda na loja de dez centavos
de Montpelier (uma das poucas lojas desse tipo que ainda existem
no país, aliás nem se usa mais a expressão "loja de dez centavos",
só as pessoas mais velhas ainda a usam, hoje em dia não se compra
mais nada por dez centavos), e os pés estão calçados em meias
grossas cinzentas e confortáveis sandálias Birkenstock, também
coisa de velho. Os anos 60 foram para ela uma libertação bem-vinda,
uma felicidade, embora ela já tivesse quase quarenta anos quando
a década iniciou. Preocupações de dinheiro, preocupações matrimoniais
— tudo isso havia ficado para trás, agora ela era uma nova-iorquina,
proprietária de um haras em Connecticut, casada com Guy Holloway,
o menino-prodígio extremamente bem-sucedido da pop art, e, mais
curioso ainda, mãe de três filhos pequenos, a empurrar, com
sua minissaia de jeans e sua franja arruivada, um carrinho de
supermercado com a pequena Dot sentada na frente, de macacão
de veludo cotelê (no bolso um ursinho de pelúcia ou um canário
de olhos redondos), e os dois meninos atrás dela, pedindo isso
e mais aquilo, nos corredores do Gristede’s da Lexington Avenue,
todas aquelas cores consumistas sob o teto de luz fria, cores
tão desinibidas, tons fosforescentes de laranja e verde, uma
década de arco-íris vívidos, de tons de ouro e prata nas pinturas,
de viagens psicodélicas. No entanto, esses entrevistadores sempre
lhe perguntavam sobre os anos 40 e 50, aquelas décadas enfadonhas
e amedrontadas, a primeira cinza-chumbo e a segunda daquele
tom de azul de esmalte que a gente vê nos filmes desbotados
que passam na televisão.
Leia também:
"Busca
o Meu Rosto", de John Updike, por Jonas Lopes
Links
Editora Cia
das Letras
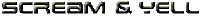
|
|