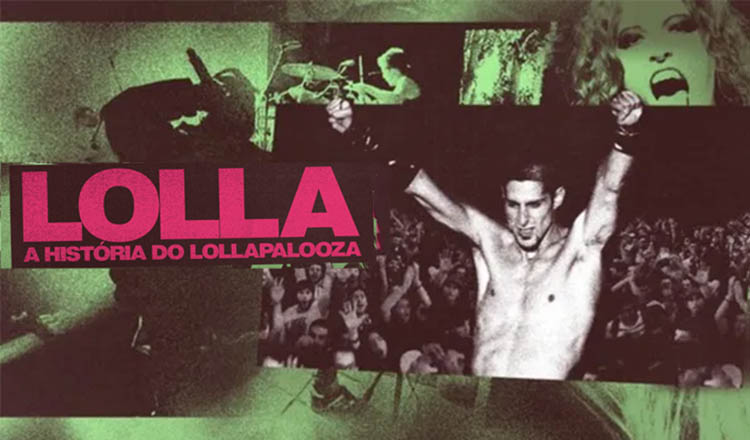texto de Davi Caro
“Muito dinheiro mata a arte”, contemporiza Perry Farell ainda no início da série “Lolla: A História do Lollapalooza” (2024), uma co-produção entre a MTV e a Paramount (e disponível via Paramount+) que procura, ao longo de três episódios, narrar as muitas histórias por trás das mais de três décadas de um dos mais notáveis e notórios festivais de música do mundo. Farell, idealizador original da empreitada – que veio ao mundo, à princípio, como uma despedida em alto estilo para sua banda, o Jane’s Addiction, em 1991 – consegue, em míseras cinco palavras, sintetizar bem a maior virtude de sua concepção (seja como performer, à frente do público) enquanto totem máximo da revolução comportamental e artística que tomou de assalto a cultura popular estadunidense e mundial no começo da última década do século passado: sim, música “alternativa” – palavra esta que, por si só, soa como uma relíquia diante da realidade atomizada dos dias atuais – também pode, e deve, ser elevada ao mais alto grau de Arte, com A maiúsculo, e a maneira como a criação de Perry arrebatou e ainda arrebata multidões pelo planeta é prova viva disso.
É no subtexto do que o cantor e performer diz, no entanto, que mora o tema que acaba por permear a narrativa abordada aqui: realmente, dinheiro demais é mais do que capaz de matar, ou pelo menos subjugar, a arte, em prol de estratégias corporativistas e comodidades mainstream que descaracterizam, distorcem e superprocessam informações e identidades culturais inteiras. Qualquer um que tenha presenciado alguma (ou algumas) das edições do festival de Farrel por aqui tem tudo para ficar de queixo caído ao se deparar com imagens de época do festival inaugural, então uma turnê itinerante com um line up fixo e apenas um palco. Uma olhada rápida no elenco de 1991 basta para compreender o quão distante estamos da realidade intencionada por Perry: de lendas do underground, como Siouxsie & The Banshees, a artistas que, mesmo que remotamente, flertavam com o mainstream seguindo suas próprias regras, tal qual o Living Colour, e entre estes dois polos, nomes com certo nível de experiência (como Henry Rollins ou os Butthole Surfers) e artistas iniciantes que viriam a marcar a história do festival e da cultura que o evento celebrava como um todo (caso do Nine Inch Nails).
Atenção especial é concedida ao rapper Ice-T, que marcou presença junto de seu grupo de thrash metal/crossover, Body Count – e protagonizou um dos mais memoráveis (ou infames) momentos da história do Lollapalooza ao participar, durante um dos shows do Jane’s Addiction, de uma versão de “Don’t Call Me Whitey”, canção originalmente composta por Sly Stone, e entoada em dueto com Farell. Carregada de tensão racial e fazendo uso da notória “N-word”, a colaboração é relembrada pelos envolvidos em depoimentos atuais como algo que seria impossível nos dias de hoje, por razões mais do que óbvias. No entanto, o mesmo talvez possa ser dito não apenas sobre este e muitos outros momentos muito bem registrados da edição original, como também sobre todas as primeiras iterações do evento, conforme seu nome se distanciava da banda em torno do qual havia sido concebido e passava a se tornar sinônimo de um tipo de cultura subterrânea que, gradualmente, passava a ser mais e mais dominante. Afinal, já em 1992, a segunda turnê a carregar os ideais defendidos por seu organizador já contava com dois nomes da então emergente cena de Seattle (Pearl Jam e Soundgarden) que, ao menos em partes, conseguiam eclipsar o poder de fogo dos headliners – ninguém mais do que os Red Hot Chili Peppers.
Ao mesmo tempo em que o primeiro episódio se dedica inteiramente à gênese da ideia inicial de Farell e os muitos percalços (e vitórias) do primeiro Lolla, a segunda parte se dedica aos anos de amadurecimento – processo esse que, tal qual a vida de todos, é feito de experiências muitas vezes dolorosas, e sempre marcantes. É difícil não citar o depoimento bem-humorado de Tom Morello ao se recordar do protesto silencioso conduzido por ele, junto de seus colegas de Rage Against the Machine, durante a edição de 1993 (onde os quatro membros se prostraram, completamente nus e amordaçados, em uma manifestação anti-PMRC, em referência à organização moralista de controle parental encabeçada por Tipper Gore), ou as recordações da baixista Maureen Herman, ex-Babes In Toyland, sobre como precisou recorrer a hotéis para poder utilizar banheiros limpos no mesmo ano (uma vez que sua banda era a única composta só por mulheres em um line up predominantemente masculino) e terminou o ciclo de shows tendo que pedir empréstimos à mãe para pagar o aluguel.

A não-participação do Nirvana após negociações para encabeçarem a turnê de 1994 e o subsequente suicídio de Kurt Cobain são tratados de modo quase solene, refletindo apenas um dos traumas conquistados nos primeiros anos do evento – embora não o último, nem o mais polêmico: a escalação, em 1996, do Metallica, então já visto como símbolo máximo do mainstream, em um festival que se propunha a evidenciar a cultura alternativa é tema de pontos de vista discordantes; enquanto alguns enxergam a controversa decisão como uma resposta à recepção menos calorosa recebida no ano anterior (onde o posto de atração principal foi reservado ao Sonic Youth), outros vêem a escolha como uma opção natural em uma realidade onde “alternativa” era uma palavra com um significado muito mais abstrato do que jamais tivera. Seja como for, a estratégia acabou determinando o distanciamento de Perry Farell de seu próprio filhote, ainda que ele tenha retornado para a tour de 1997, quase toda dominada por artistas ligados à música eletrônica. Apesar de desafiador, o caminho escolhido acabou cobrando seu preço, e o festival passaria por um hiato de seis anos que veria a ascensão de outros eventos mais alinhados com as experiências que influenciaram na concepção original do Lollapalooza (os eventos realizados desde os anos 1970 em Reading e Glastonbury, na Inglaterra, que impactaram diretamente na criação do Coachella, por exemplo).
A segunda fase da história do Lolla, no entanto, toma um caráter coadjuvante nesta produção, ao ponto de sua representação soar apressada e quase obrigatória. A tentativa fracassada em manter o aspecto itinerante que marcou suas primeiras investidas, em 2003, é citada como o principal motivo pela escolha de Chicago como sede para todas as edições a partir de 2005 (após o cancelamento da edição de 2004). Além de reposicionar o Lollapalooza, já entendido coletivamente como marco importante na construção da cultura independente, junto ao grande público, a remodelação de seu conceito passa a assumir um novo papel, principalmente em meio àqueles que o frequentaram como parte da audiência e foram, gradativamente, alçados ao status de artistas que agregam multidões em suas próprias carreiras musicais: afinal, desde sua concepção inicial – conforme a produção faz questão de deixar claro – o conceito por trás do evento tinha a intenção de ser mais do que simplesmente um festival de música, focando em arte para além dos confins do que atrai as grandes massas (como profissionais da pirotecnia e mesmo ONGs que trabalham em prol da preservação ambiental e do controle de armas de fogo). Notáveis são os exemplos tanto de Chance The Rapper, que expõe em seu honestíssimo depoimento ao documentário a experiência de invadir as barreiras que isolavam o festival em sua nova sede, a fim de ver os shows, e que eventualmente se transformou em um comunicador capaz de movimentar legiões de jovens, quanto de Lady Gaga, que é vista tocando para pouquíssimas pessoas em um palco secundário de um já distante 2007, contrastando com sua performance matadora enquanto headliner apenas alguns poucos anos depois.
Talvez o maior pecado de “Lolla: A História do Lollapalooza” seja justamente perceptível em seu trecho final: ao invés de evocar, ou mesmo sequer acenar, em direção aos muitos avanços relativos às suas primeiras edições, na forma de cada vez mais diversidade tanto em seu público quanto em seus elencos e atrações principais (contrastando com anos onde mulheres, por exemplo, eram raridade em meio aos artistas que se apresentavam, e sempre em posições secundárias), os três episódios muitas vezes se assemelham a uma biografia de seu porta-voz, para o bem e para o mal. Claro, é necessário muita coragem, e sorte, para transformar o que poderia ser uma já atrativa despedida dos palcos em um dos maiores fenômenos culturais das últimas décadas, ao ponto de se expandir para outros continentes (como a Europa, a Ásia e, sim, a América do Sul). Mas Perry Farell se mostra, em vários momentos, absorto em seus próprios feitos e vontades de modo quase shamânico, alternando entre a descontração e uma seriedade desconcertante que pode inclusive esconder alguns equívocos, exibindo-o como uma espécie de Messias pós-moderno que conduziu toda uma geração a uma terra prometida que muitos teriam julgado impossível de existir.
As bem-compiladas imagens de arquivo e excelentes depoimentos gravados nos dias atuais, que ainda incluem Flea, Lars Ulrich e Donita Sparks, além dos executivos da C3 (empresa que vem coordenando o festival juntamente com Farell) e de muitos dos membros da equipe que esteve lá no início (juntamente com diversas histórias que ficam entre o hilário e o tocante – o apocalíptico ano de 2020 não passa incólume, claro) fazem valer a experiência de assistir aos três capítulos sem receio. Apesar de tudo, “Lolla: A História do Lollapalooza” retrata um ponto de vista que em muito contrasta com a pretensa faceta muito criticada do festival como é reconhecido hoje, com suas inúmeras ativações de marcas famosas e anúncios corporativos que, bem sabemos, são lugar comum e necessários nos dias atuais. Ao invés disso, parece padecer de um excesso de passado, ou uma relutância em encarar o futuro, sobretudo no que tange sua principal figura. Sim, muito dinheiro mata a arte. Mas o ego, se não mata, ao menos corrompe – algumas vezes, de maneira irreversível, não importando as transgressões e inovações de um passado que, sabemos, não volta mais.
– Davi Caro é professor, tradutor, músico, escritor e estudante de Jornalismo. Leia outros textos de Davi aqui.