entrevista por Homero Pivotto Jr.
É de se esperar que uma banda como o Bad Religion tenha na literatura fonte de inspiração. Um grupo que sabe como tocar o público com letras eloquentes e bem sacadas tende a encontrar no universo literário subsídios para estimular a criatividade. E essa percepção é confirmada pelo guitarrista Brian Baker, justamente neste momento em que o conjunto lança sua própria biografia chamada “Do What You Want” (“Faça o que Você Quiser”). Inclusive, a entrada de Brian para o Bad Religion, em 1994, pode ter relação com o hábito de ler.
“Eu leio constantemente e sempre fiz isso. Possivelmente foi por isso que entrei na banda. Eles não me conheciam muito bem, e o Jay Bentley notou que sempre havia um livro comigo. Acho que a leitura realmente impacta a maneira como as composições do Bad Religion são escritas e os temas das letras”, revela Brian.
“Do What You Want”, que ganhou edição nacional pela Highlight Sounds, relata momentos importantes na trajetória de 40 anos dos punk rockers californianos. Além de Brian, a narrativa é centrada em outros três integrantes, esses fundadores. São eles, conforme descrição do release: “Greg Graffin, um garoto nascido em Wisconsin que cantava no coral e se tornou um ícone do punk rock em Los Angeles ainda durante a adolescência; Brett Gurewitz, que abandonou a escola e fundou a gravadora punk independente Epitaph, tornando-se um magnata da indústria musical; Jay Bentley, um surfista e skatista que ficou famoso tanto por suas habilidades como baixista quanto por seu comportamento irreverente no palco e fora dele”.
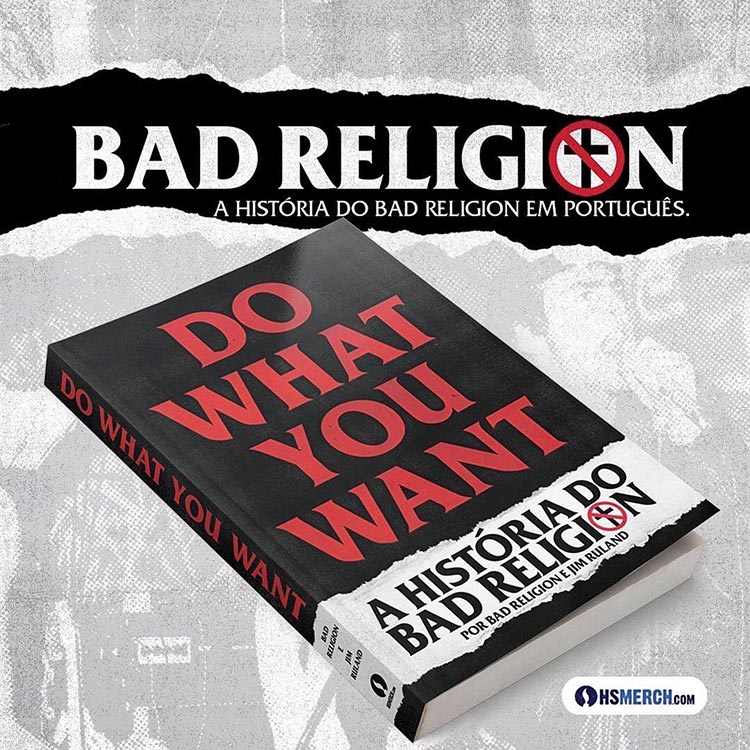
Quem assumiu a tarefa de colocar no papel a história do Bad Religion foi o jornalista Jim Ruland, que escreve para fanzines desde a última década do século passado e é autor de “My Damage”, publicação sobre Keith Morris (vocalista fundador do Black Flag, Circle Jerks e OFF!). Ruland conversou com o Scream & Yell em agosto e contou: “O livro é a história da banda contada com suas próprias palavras, de forma livre e organizada. A narrativa é focada no olhar deles. Fiquei muito intimidado no começo. Como você conta uma história que começou há 40 anos e continua até os dias de hoje?”, questiona.
O livro ajuda compreender a força e a relevância ainda atual do Bad Religion — nome atrelado ao hardcore melódico, mas que influenciou artistas diversos, bem como tomou para si referências de outros subgêneros musicais. São 17 álbuns de estúdio e mais de cinco milhões de exemplares vendidos. No Brasil, a banda ganhou visibilidade maior ainda nos anos 1990, ao lado de pares como NOFX, Offspring, Rancid e Green. Alguns desses, certamente, inspirados pelo próprio Bad Religion.
Em conversa via Zoom, o guitarrista Brian Baker revelou seus momentos preferidos do livro e recordações que não estão nas páginas, falou sobre o impacto da literatura nas composições do Bad Religion, analisou como as experiências no Minor Threat e Dag Nasty lhe proporcionaram ensinamentos e deu suas impressões sobre punk, e ainda comentou sobre seu novo projeto, o Fake Names. A vida real se mostra mais estranha que a ficção. E é em períodos assim que ler fortifica o processo de crença nas atividades criativas capazes de nos tirar, mesmo que momentaneamente, de uma era de irracionalidade.
Considerando o nome do livro como uma afirmação: pode-se dizer que vocês têm feito o que querem? Musicalmente e em relação ao gerenciamento da banda.
Sim, eu diria que 100%. Realmente temos seguido nossa própria orientação, o que explica por que nem tudo foi na melhor direção. Somos apenas pessoas, punks feitos. Somos uma banda completamente DIY (“do it yourself”, ou faça você mesmo) e do what want (faça o que quiser). É por isso que estamos falando hoje.
O livro aborda alguns altos e baixos do Bad Religion. Para você, quais seriam uma grande conquista e uma decepção na trajetória com a banda?
Acho que a grande realização é, durante todos esses anos, fazer parte de uma banda que é tão única. E que canta sobre problemas globais de um jeito bem provocativo. Sou abençoado — se você acredita em Deus, algo que eu não — por estar em um grupo no qual Brett Gurewitz (guitarra) e Greg Graffin (voz) escrevem as músicas. Isso é incrivelmente especial e uma oportunidade de vida. Penso que o único aspecto negativo é que, infelizmente, passei os primeiros 10 anos bêbado. Perdi toda a diversão. Não tenho boas memórias de parte do que rolou nos meus anos iniciais no Bad Religion. Eu era jovem, cheio de disposição. A gente fazia shows e ia beber com os amigos. Acho que perdi algo, porque agora não bebo mais e tudo parece muito mais, digamos, limpo. Eu me lembro das coisas. Desejaria ter tido antes essa mentalidade que tenho agora.
Houve alguma situação em que as pessoas lhe contaram algo que você fez, e não recordava?
É, acho que sim. Ainda bem que existem fotografias (risos) de muitos acontecimentos. Acho que mesmo quando estava doidão eu sempre tive uma câmera. Assim, posso ter meio que uma lembrança de segunda mão. Tipo: “claro, agora está vindo à minha mente”. É mais como uma realidade virtual do que a experiência real.
Falando sobre livros: você costuma ler bastante? Como o ato da leitura inspira o Bad Religion?
Eu leio constantemente e sempre fiz isso. Possivelmente, foi por isso que entrei na banda. Eles não me conheciam muito bem, e o Jay Bentley notou que sempre havia um livro comigo. Eu cresci dessa forma. Como filho único, meus amigos eram livros. Acredito que é o caso do Brett e do Greg também. Ambos são meio outsiders, ávidos leitores. Eles leem não apenas história e política, mas ficção científica é algo que também interessa a esses caras. E acho que isso (leitura) realmente impacta a maneira como as composições do Bad Religion são escritas, bem como os temas das letras. Livros são incrivelmente importantes. Espero que nunca desapareçam.
Desde quando o Bad Religion tem essa ideia de fazer um livro? Lembra quem apareceu com isso?
Genericamente, meio sabíamos que seria legal fazer isso, pois temos histórias que valem a pena contar. E todos nós da banda lemos bastante. Leio toda biografia musical que consigo encontrar, mesmo que seja de alguém que eu não curta. Tenho interesse na história tanto quanto no som. Leio materiais sobre caras do jazz e músicos do heavy metal que não necessariamente gosto, mas que os livros despertam meu interesse. Pensamos que o Bad Religion valeria um livro. E aconteceu no momento em que a história progrediu a um ponto no qual fizemos um balanço e olhamos para ela, alguns anos atrás. O livro certamente não faz uma crônica de toda nossa jornada, até porque pretendemos seguir até quando for possível. Mas traz um recorte bem interessante. Principalmente para quem é fã da banda. É uma viagem pessoal e reveladora de como o Bad Religion é internamente, como a banda funciona e as personalidades dos músicos.
E você acha que a população lê o suficiente hoje em dia? Parece-me que vivemos tempos nos quais não apenas os livros, mas a cultura e as artes em geral, são consideradas cada vez mais descartáveis. O que você acha?
Certamente os tempos mudaram e, atualmente, temos uma população que cresceu majoritariamente com telas. O estilo é diferente. Mas penso que arte e literatura são consumidas mesmo assim. É só um modelo diferente. Ninguém pensaria que audiobooks seriam tão populares, mesmo 15 anos atrás. Contudo, muita gente, em razão do ritmo em que o mundo funciona, faz sua leitura ouvindo. E isso é ótimo, pois a informação ainda está lá. Muita gente lê em dispositivos eletrônicos. Embora não sejam formatos físicos, o que penso ser uma vergonha, mas o ponto é que a informação segue podendo ser obtida lá. É só um produto de como o mundo é diferente hoje se comparado há 20 anos. Tenho certeza que mudanças continuarão ocorrendo, e as pessoas irão experimentar arte, literatura e música em diferentes modos. Alguns que nem sequer pensamos hoje.
Poderia nos contar uma história que você acha que deveria estar no livro, mas não foi incluída por algum motivo?
Não sei se algo importante ficou realmente de fora, pois o livro é muito bem trabalhado. Jim fez muito bem a pesquisa, passando muito tempo com o pessoal da banda e fazendo com que contássemos praticamente tudo de significativo. Mas tem algo que costumávamos fazer, acho que não está mencionado e que era divertido: Jay, eu e Greg Graffin, se tivéssemos viagens curtas entre um show e outro, alugávamos carros e fazíamos corrida. Era sempre divertido. Dirigíamos em alta velocidade, totalmente desconsiderando autoridades e leis de trânsito. Umas das últimas coisas punks que fizemos. Um bando de caras velhos correndo em carros alugados. Era algo até meio adolescente. Olho para isso com carinho.
Já que falou em punk: o que considera ser punk hoje em dia?
É o mesmo de sempre. O principal é questionar autoridade, seguir sua própria visão e estar atento aos sistemas que são criados para controlar as pessoas. Para mim, também é importante seguir usando cinto de rebite, ter algumas tattoos. Sou um punk velho, finalmente. Lembro-me de ver os caras de mais idade quando era mais novo, nos shows, durante os anos 1980. Pensava que eles eram bem coroas em seus 30 e poucos anos. Ficava meio assustado com eles, mas os respeitava justamente por estarem lá. Eram caras que estavam no punk antes de mim, ainda nos anos 1970, e agora eu sou o punk velho. Estou tendo o respeito que mereço (risos). Eu adoro, obrigado!
O Bad Religion veio da cena punk. Consideram um movimento ainda relevante? E como vocês se relacionam com o ele?
O Bad Religion se relaciona com o punk de algumas maneiras. Estamos na categoria de fundadores do estilo, influenciamos tantas outras bandas com o passar desses 40 anos. Não dá nem para contar quantas foram inspiradas e tiraram lições de grupos como nós. Ou Black Flag, Circle Jerks e até o Minor Threat. Falando nisso: participei não de uma, mas de duas bandas lendárias do punk. Obrigado (risos)! É como a constituição do punk rock. Temos inegável influência em muitos artistas, alguns de grande sucesso. Mas a parte relevante é que o Bad Religion continua curioso. Não fazemos discos simplesmente para lançá-los. Estamos constantemente lidando com as complexidades da vida e olhando a maneira como o mundo se comporta. E parte de seguir relevante é não dar bola para o que dizem por aí. Criamos sons não porque é uma tarefa, mas sim uma paixão. Muitas bandas antigas ficam estagnadas e se apoiam em hits do passado. Isso até pode ser legal. Às vezes vou assistir artistas que curtia quando garoto. Mas com o Bad Religion temos lançado vários discos e ganhado espaço com cada um deles. Sou muito orgulhoso disso porque não é bobagem ou exercício financeiro. É paixão. Por isso seguimos.
Se você tivesse que classificar cada membro do grupo, incluindo você, como um álbum da banda, quem se identificaria com qual disco? Por quê?
Jay sempre vai ser o “Suffer” (1988). Porque é algo que ele adora fazer, ele está sempre “sofrendo”. Mesmo na carreira musical experiente dele, esse é o primeiro álbum no qual se pode perceber o quão bom baixista ele é. E também é um trabalho fundamental para o Bad Religion, tendo Jay e Greg como membros constantes. É difícil para mim escolher um, mas diria que tem de ser o “The Gray Race” (1996), porque foi o primeiro disco em que toquei como integrante do Bad Religion. É um marco histórico, e as faixas são um pouco mais pessoais para mim — coescrevi algumas delas. Quando penso naquele tempo em que gravamos o disco, 1995/1996, são muitas boas recordações. As que não estão embriagadas. Greg é o “Against the Grain” (1990), que é o protótipo do trabalho posterior dele na música e na ciência. O Brett é, definitivamente, “Age of Unreason” (2019), o álbum mais recente. Penso que é um exemplo do aperfeiçoamento contínuo da maneira como ele compõe. E também muitos dos temas políticos que ele escreve são sinceros e urgentes, e seguem assim para ele. Para ambos, Mike Dimkich (guitarra) e Jamie Miller (bateria), seria o “Recipe for Hate” (1993). Não sei se eles se deram conta que quando entraram para a banda, tiveram que lidar com algumas dificuldades e pessoas os aceitando. Fico feliz de eles estarem conosco.
Vocês são amigos para além da banda?
Sim, com certeza. Todos moramos em cidades diferentes, o que penso ser algo interessante para manter a longevidade. Às vezes não vejo, por exemplo, Greg e Jay por dois ou três meses. E quando nos encontramos é emocionante, tipo reunião de família. Isso mantém as coisas excitantes. Se a gente morasse junto na mesma casa, como fiz com outras bandas, provavelmente não teríamos durado tanto.
Como a experiência que você teve com Minor Threat e Dag Nasty se refletem na sua entrada e permanência no Bad Religion?
Qualquer experiência que tive com Minor Threat ou Dag Nasty sempre foram um aprendizado. E, desde que entrei no Bad Religion, tenho aprendido muito sobre fazer música, como tocar o instrumento. Gosto de pensar que estou ficando melhor. Toco todos os dias, para mim é como respirar. E o Bad Religion está continuamente me desafiando, pois flerta com diferentes estilos, mas retém a sinceridade. Você percebe que o punk rock está lá. Entretanto, há sempre diferentes requisitos, e isso mantém tudo emocionante para mim. Sempre existe algo novo para se aprender.
E o Fake Names, como surgiu esse projeto?
É pura diversão! Éramos para excursionar este ano, mas obviamente não foi possível. Fiquei muito feliz que o disco saiu durante a pandemia. Porque se precisamos ficar em casa, passar por quarentena ou se isolar, não há nada mais valioso do que música. Estar apto a prover canções novas é muito importante para mim. A banda sou eu e dois caras com os quais fui para a escola elementar, de criança mesmo. Conheço o outro guitarrista e compositor Michael Hampton (S.O.A., Embrace, One Last Wish) desde a primeira série, quando tínhamos uns seis anos. Johnny Temple (Girls Against Boys, Soulside) também foi para nosso colégio, mas ele era um pouco mais novo. Então, só tive contato com ele quando eu estava com uns 10 anos. Coincidentemente, nos tornamos todos músicos. Dennis Lyxzén (Refused, INVSN), de quem eu adoro os discos — acho Refused fantástico —, conheci casualmente. Todos nós veteranos do punk rock meio que sabemos da existência um do outro. É tipo uma rede de contatos. Mesmo que eu encontre qualquer pessoa de banda aleatória, tipo, sei lá, alguém do Cock Sparrer, a gente sabe quem é quem e vai cumprimentar. Topei com o Dennis em um festival e perguntei se ele queria cantar. Ele me disse para enviar uma gravação. Mandei um material no qual estávamos trabalhando, e ele escreveu de volta dizendo que aceitava. E foi isso. Não íamos dizer para o vocalista como fazer a parte dele, mas eu sabia como o Dennis pensa. Sou um fã da forma como ele escreve música, então tinha certeza de que ele não faria algo simplesmente por fazer. Dennis é um cara sério. O que é bacana do Fake Names é que o som é leve, puxa mais para o punk do fim dos 1970, mas as letras do Dennis são sobre problemas do século 21. Isso torna a entrega interessante.
Você tem algum momento preferido do livro? Qual parte diria para os leitores prestarem atenção?
Minhas partes favoritas são as mais anedóticas. Porém, eu realmente não estava ciente de que o Fletcher (guitarrista do Pennywise) levou o Brett para a reabilitação. O que me soou engraçado, pois conheço o Fletcher quase toda minha vida, e ele não é o tipo de cara que iria à reabilitação. Aprendi mais sobre o Brett com o livro. Como ele não tem feito turnê com a gente, não passei com ele o mesmo tempo que com Greg e Jay. Então, tudo era fascinante (no livro). Principalmente as histórias de uns gravadores antigos e do começo da Epitaph, quando ele praticamente vivia no pequeno espaço do escritório aprendendo melhor a como gravar música. Tenho grande respeito pela habilidade dele, pois o Brett batalhou para chegar onde está. Esses trechos do Brett são muito legais. Espero que os leitores também achem, o que pode ser uma inspiração.
– Homero Pivotto Jr. é jornalista, vocalista da Diokane e responsável pelo videocast O Ben Para Todo Mal.

Scream and Yell falando de punk/hardcore de forma não irônica ou crítica? Vai chover.