
por Tiago Ferreira
Se pedirem pra alguma pessoa citar dois grandes álbuns de Miles Davis, muito provavelmente falarão de “Kind of Blue” (1959) e mais um outro, que pode ser “The Birth of the Cool” (1949) ou “Bitches Brew” (1970) ou “Tutu” (1988). Cada um dos discos citados representam diferentes fases musicais de um dos jazzistas mais influentes de todos os tempos. Aquele trompete já passeou pelo bebop, formatou o modal, trafegou por vias orquestrais (com uma pequena ajuda de Gil Evans), flertou com gêneros como rock, funk, soul, música pop e até rap. Não havia trincheiras musicais para Miles; paradigmas tinham que ser quebrados e ponto final. Não é à toa que muitos especialistas o equiparam a Duke Ellington ou Count Basie como bandleader.
Um dos maiores méritos do trompetista foi descobrir inúmeros músicos virtuosos e competentes o bastante para ilustrar o que ele pontilhava na sua básica teoria: tocar o que não está lá! Tal forma assimétrica de composição atingiu extremos em sua fase elétrica, consolidada, justamente, após o rompimento com seus companheiros musicais mais longevos: Ron Carter (baixo), Herbie Hancock (pianos), Tony Williams (bateria) e Wayne Shorter (sax), que formaram o segundo grande quinteto. Era 1968.
“Miles in the Sky”, de 1968, pode ter sido o último álbum do trompetista com o segundo grande quinteto, mas foi decisivo para levar o músico a outras direções dentro do jazz, que não caíssem no vício do modal pós-“Kind of Blue”, ou no avant-garde (que Miles repudiava veementemente por ser uma parafernália ininteligível) ou mesmo no free-jazz (conceito que seu ex-colega John Coltrane levou aos extremos com “Ascension”, de 1965).
“Eu tenho que mudar. É como uma maldição”, chegou a dizer Miles Davis. Depois da exaustão ao gravar “Porgy and Bess” em 1958, com orquestração de Gil Evans (para ele, “o disco mais difícil que já gravei”), Miles percebeu que a perfeição poderia ser atingida de forma mais simples do que a meticulosidade excessiva. O ideal seria dar liberdade aos músicos, lição que ele captou muito bem com o sucesso estrondoso de “Kind of Blue”, que veio no ano seguinte.
Alguns anos depois, com o primeiro grande quinteto (John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers, Philly Joe Jones e Miles Davis) já dissolvido, Miles continuou no exercício de chamar músicos jovens para tocar com ele. Duas figuras cruciais para os primeiros indícios de mudança em sua sonoridade vieram com Herbie Hancock, chamado aos 18 anos, e Tony Williams, aos 17 – sem esquecer, é claro, das linhas ágeis no baixo de Ron Carter. Eles tinham boas referências do rock e, depois de um longo tempo hospitalizado por conta de cirurgias, Miles gravou “E.S.P.” (1965), com solos mais esvoaçantes e temas mais longos.
Na gravação do próximo trabalho, “Miles Smiles” (1967), o saxofonista Wayne Shorter se mostrou um grande parceiro nas construções das faixas, trazendo uma dinâmica mais incisiva que ia se aproximando, aos poucos, do vigor roqueiro – muito por conta da rapidez nos bumbos de Tony. Os discos seguintes, “Sorcerer” (1967) e “Nefertiti” (1968), não trouxeram inovações estéticas na sonoridade, apesar das capas que indicavam um jazz ‘straight-forward’ com fotos em perfil de sua então esposa Cicely Tyson e, em ‘Nefertiti’, Miles em plongée.
Em “Miles in the Sky” (1968), pela primeira vez, o trompetista trouxe um piano elétrico para que Hancock tocasse na faixa “Stuff”, com linhas mais tensas no baixo elétrico de Carter. Williams aqui está mais nervoso do que nunca em seus pratos e bumbos, comandando viradas excepcionais na eletrizante e quase avant-garde “Country Son”, uma faixa de ruptura diferente de qualquer outra coisa já tocada por Miles. O guitarrista George Benson também contribui com linhas em rhytm’n blues em “Paraphernalia”, um cool jazz acelerado à velocidade máxima. Não havia partituras escritas para o trompete em todo o disco: o que impera aqui é uma improvisação pulsante em 4/4, do começo ao fim. Os temas se alongam chegando a durar 12, 15, 17 minutos, algo que seria repetido em “Filles de Kilimanjaro” (1969) e intensificado no disco-chave de sua fase elétrica: “In A Silent Way” (1969).
Outro prelúdio de que as coisas rumavam para algo diferente estava justamente na capa de “Filles de Kilimanjaro”. Nela, estava estampada a foto de sua futura esposa Betty Mabry, que ganhou um tema de mesmo nome e ficou posteriormente conhecida como a cantora de funk-rock Betty Davis. Betty trouxe grande influência para Miles Davis no curto período em que estiveram casados. Apresentou a ele o som de Jimi Hendrix, Sly Stone e a pegada funk que estava começando a surgir com o soul quente de James Brown. Miles viu então a possibilidade de uma abordagem diferente com sua música, seguindo o eterno propósito: trazer o gingado negro às suas canções, algo que ele sentia falta em quase três décadas de carreira como jazzista. “Para mim, um grupo deve ser misto. Para obter swing, você tem que ter uns caras negros tocando”, disse Miles em uma entrevista.
Jimi Hendrix era o mago negro do acid rock que trouxe pitadas da soul music nos vocais e solos roqueiros flamejantes de sua guitarra; Sly Stone era uma das figuras mais proeminentes do mix racial com o Sly and Family Stone e seu funk refreado. O que unia os dois era a eletricidade – campo em que Jimi era mestre. Assim como os seus contemporâneos musicais, Miles teve que criar um método para chegar a esse gingado, sem prejudicar a gravadora Columbia (que sempre apostou no músico) e sem se corromper musicalmente.
Jimi e Miles se tornaram bons amigos e começaram a trocar influências. O trompetista aprofundou seus conhecimentos sobre parafernálias eletrônicas e, por dica de Betty, abandonou os ternos e começou a usar vestimentas mais espalhafatosas, que até dialogavam com suas experimentações musicais.
Não que Miles tenha mudado radicalmente de uma hora pra outra. “Country Son”, tempos depois, se mostrou uma ruptura estética na própria forma de composição, deixando o baixo voar alto para que o trompete de Miles brincasse com as emoções pegando-as e partilhando-as no ar. “Mademoseille Mabry”, que teve a linha de baixo escrita pelo próprio Miles, é uma ode a sua então esposa que esconde algo interessante de se abstrair: mais que uma balada, ficou registrada como um prelúdio da tensão provocativa mais eletrizada com os órgãos do australiano Joe Zawinul em “Shhh… Peaceful”, a revolucionária e espantosa faixa de abertura de ‘In A Silent Way’.
Importante disco de transição, ‘In A Silent Way’ foi estruturado com um time maior. Após a saída de Ron Carter, Dave Holland assumiu o baixo. Tony e Hancock ainda estavam lá, medindo gêneros como funk e R&B em seus instrumentos. Miles chamou o organista Joe Zawinul, o ainda inexperiente (mas que depois se tornaria uma autoridade) nos pianos elétricos Chick Corea e o guitarrista John McLaughlin.
Tony trouxe uma base funkeira, enquanto Holland buscou slaps meio tribais que se tornaram norte essencial para a dinâmica desconstrutiva dos pianos de Corea e Hancock. A ruptura estética é tão tremenda, que Miles só se sente livre para entrar a partir dos 9 minutos da faixa original de “Shhh… Peaceful”, exibindo sopros intensos e vívidos que injetam um hard-bop mais contido.
O método de gravação e masterização foi outra sacada de Miles. Com a ajuda do produtor Teo Macero (com quem vivia uma relação de amor e ódio), descobriu como gravar sessões ininterruptas para, depois, editar e erigir os temas, assim como os Beatles fizeram com “Sgt. Peppers’’ em 1967.
Ok – você pergunta – e o que diabos isso tem a ver com groove? Zawinul, talvez o parceiro mais notável deste disco, oferece sutileza para que Holland mantenha a chama acesa com seu contrabaixo duplo permeando toda a sessão. Miles Davis, em “In A Silent Way”, não aparece como figura principal – apenas como mero participante de um embrião que mudou para sempre a forma de se fazer jazz. Aqui você não dança, talvez não contemple. Mas as pulsações batem, as emoções pululam de alguma forma, algum tipo de reação é provocado com uma anarquia sonora que não se encaixa em nenhuma definição estética. Estava criado o fusion jazz. Mesmo que se queira esconder, o groove está lá. Capturar todas as nuances desse groove é algo que Miles deixa para o ouvinte; e ele não facilita tanto assim. Próximo passo: “Bitches Brew”.
Muitos consideram este o disco-chave de Miles Davis, talvez a sua segunda obra-prima. Só que este é um dos álbuns mais difíceis de digerir de toda a sua discografia. Não que isso seja um aspecto negativo: para se ter ideia da representatividade de “Bitches Brew” (1970), você deve ouvir pelo menos uns dois temas. E aí, pergunte-se: como ele se tornou um dos discos mais vendidos de jazz de todos os tempos?
Poderia tentar enumerar os motivos que o levaram a tanto, mas irei pontuar por que o disco tinha tudo para ser um fiasco comercial: 1º ele não é totalmente roqueiro, como algumas notas superficiais apontam; 2º tem mais referências orientais que ocidentais; 3º absolutamente improvisado, mas nada de free-jazz; 4º tem efeitos de estúdio que poderiam dissolver a naturalidade do ritmo; 5º é um verdadeiro quebra-cabeças musical; 6º o disco tem mais de 90 minutos de duração, divididos em seis temas; 7º…
Neste disco, Miles colocou dois baixos elétricos para entrar em dissonância com as guitarras de McLaughlin, que soam como respirações ao longo dos temas. A faixa-título mostra um exuberante solo de Miles a partir dos 10 minutos em uma ascensão meteórica que, assim que abre alas para o sax de Wayne Shorter, vai descendo aos poucos os degraus com a dinâmica dos pianos elétricos.
“Pharaoh’s Dance”, que abre o disco, remonta aqueles momentos de tensão de ‘In A Silent Way’, seguindo o mesmo formato de jams interrompidas pela edição. E aí dá para se explicar o porquê de cada tema ter mais de 20 minutos de duração: as referências musicais são múltiplas e a sinergia entre os músicos não se põe em questão, já que o próprio conceito é de desconstrução. Tudo soa belo e feio, linear e anacrônico, pulsante e metódico. A ruptura deste disco se explica pela consolidação da ‘anarquia organizada’ de uma estrutura já iniciada em “In A Silent Way”. Sem falar que é bem mais recheado de groove, seja na tribalística “Spanish Key” ou no modal revisitado de “Miles Runs the Voodoo Down”, talvez um dos temas em que extrai os melhores solos de seu trompete harmon mute, que simula efeitos de eco.
Naquele momento, diziam que Miles não fazia mais jazz. Isso era o mesmo que repetir o episódio em que disseram que Ray Charles estava fazendo música do capeta ao podar referências da música gospel para formatar a soul music.
Para manter a boa forma, Miles Davis costumava treinar boxe. Nunca se aventurou a ir para os ringues, até mesmo por pressões de empresários. Afinal, ele era um músico de renome, e não podia machucar os lábios e correr o risco de não tocar mais trompete com toda veemência e beleza que costumava tocar em seus melhores momentos. Além do condicionamento físico, o boxe tornou-se um grande ponto de referência para Miles, por ele considerar “uma forma de arte. É mais ou menos isso que imagino ao ver um bom lutador de boxe na arena”.
“As reações, as caídas, as combinações. Boxe é bem excitante, e era uma coisa que Miles estava disposto a enxergar”, disse o saxofonista Dave Liebman, que tocou com Miles no disco “On the Corner” (1972). “Jazz tem um aspecto de improvisação, assim como o boxe, essa é a beleza do gênero”.
Jack Johnson (1878-1946), o primeiro pugilista negro campeão de pesos-pesados, era um símbolo que tinha tudo para servir de inspiração a Miles: por ser lutador e negro, representava uma quebra de paradigmas sociais. Nada mais natural que a gravação do disco “A Tribute to Jack Johnson”, em 1971, um disco em que o fusion está bem mais consolidado e os temas são construídos de forma mais pungente e coesa. Claro que não há tantos elementos dissonantes como em “Bitches Brew”, o que serviria de desculpa para a Columbia não apostar no marketing e no potencial de “Jack Johnson”.
Os dois únicos temas continuam longos, mas são bem mais limpos. Em “Right Off”, quem fica como pano de fundo nas baquetas é o incrível Billy Cobham, um dos bateristas mais velozes de que se tem notícia. Miles dá uma aula de impulsões sentimentalistas com o seu trompete, exibindo notas espaçosas com sopros estridentes que saltam no calor de uma batalha contra o oponente. Ele pegou tanto gosto por este tema que reproduziu até cansar nos concertos de sua fase elétrica. Michael Henderson (baixo) e McLaughlin também criam riffs potentes; um deles, em velocidade 12/8, surge a partir dos 20 minutos de faixa, com pontuações estupendas no sax e no trompete.
A segunda faixa, “Yesternow”, é mais melancólica e foi gravada por outros membros, que incluíam Dave Holland, Chick Corea, Jack DeJohnette nas baterias e Bennie Maupin no clarinete. No final, há um curto discurso do campeão Jack Johnson que arrepia os nervos: “I’m Jack Johnson — heavyweight champion of the world! I’m black! They never let me forget it. I’m black all right; I’ll never let them forget it.”
Dizem por aí que Deus é brasileiro. Se isso for verdade, então não deixa de ser verídico que o diabo também o é. E ele está na música; está nas percussões fervorosas, nas violas perdidas de cada esquina ou quem sabe até mesmo no semblante de Hermeto Pascoal ou nos tambores de Airto Moreira. Talvez este seja um bom argumento para explicar a presença brasileira do próprio Pascoal e do percussionista Airto Moreira no jungle-fever ‘Live Evil’ (lançado em 1971), gravado em um dos períodos mais férteis de toda a carreira de Miles Davis – período de agosto de 1969 a agosto de 1970.
Aqui, há algumas sobras de “A Tribute to Jack Johnson”, mas a sonoridade quase pura do disco anterior dá lugar a algo mais possesso e até musicalmente ambicioso. Não tem aquela necessidade de ruptura estética de “Bitches Brew” nem o conceito de pungência de “Jack Johnson”. É um disco mais libertino e com uma fuzarca sonora mais equilibrada e, ao mesmo tempo, tórrida.
Inicialmente, “Live-Evil” foi pensado como um complemento musical de “Bitches”, tanto que até a arte das capas seguem o mesmo conceito psicodélico-tribal, ambos desenhados por Mati Klarwein. Depois de pronto, Miles percebeu que as direções eram outras, e decidiu não se prender ao disco-chave de sua fase elétrica. Quando deu de cara com a capa que mostra uma deusa negra da fertilidade, Miles pensou que seria legal ter também uma representação do diabo na contracapa. (Klarwein pesquisou e viu um cartoon de J. Edgar Hoover, que estava em seus momentos finais de vida. Hoover foi praticamente o criador e primeiro diretor do FBI. Ou seja, nada mais propício).
Em “Live-Evil’, Miles segue com um trompete mais acústico, enquanto Gary Bartz arrebenta no sax soprano com sopros intermitentes, dignos de um verdadeiro virtuose. John McLaughlin mais uma vez aparece, só que com riffs mais contínuos e crus – suscitando em uma boa proximidade com a nossa música instrumental brasileira. Os melhores momentos de cada um destes aspectos citados estão perfeitamente condensados na faixa “What I Say”, com flautas de Bartz também emergindo em meio à catarse jazzística.
Este disco é como se fosse um cosmo espacial: várias estrelas brilham separadamente e ao mesmo tempo. A importância rítmica é tão notada quanto as performances solistas. Vide o contrabaixo de Michael Henderson, por exemplo, que substituiu Dave Holland: em “What I Say”, ele captura um fragmento do primeiro tema de “Jack Johnson”, enquanto Chick Corea e Joe Zawinul fornecem uma atmosfera híbrida e eletrizada, com mais groove que qualquer outro disco anteriormente gravado por Miles.
Segundo o baterista Jack DeJohnette, o nome “What I Say” veio numa tentativa de Miles ao explicar a DeJohnette que extraísse o som perfeito de suas baquetas. Eles estavam ouvindo uma música de Jimi Hendrix, e Miles pediu para o baterista prestar atenção no groove de Buddy Miles. “E então ele cantou a batida pra mim, ‘dum-dum-daahh, dum-dum-daah, dum-dum-daah’ e eu falei ‘já saquei, você quer o groove de Buddy Miles na minha técnica’”, afirmou DeJohnette em entrevista a Ian Carr para o excelente livro “Miles Davis: The Definitive Biography”. Mais uma vez impera o lema de tocar o que não está lá; caso a linha tênue entre musicalidade e anarquia seja extremamente ultrapassada, Miles vem com o conforto de seu trompete, como sempre costumou fazer. Tal qual um mestre.
Hermeto contribui com suas referências da natureza na passageira “Nem Um Talvez”, que tem requintes de música clássica, mas esconde a selva nos baixos de Ron Carter e nos experimentos percussivos de Airto Moreira. “Selim”, que abre o segundo disco de ‘Live-Evil’, dá continuidade à verve natureba, com elementos aquáticos que servem como um balde d’água temporário, um intervalo para toda a pegada frenética que prossegue em “Funky Tonk” (onde a cuíca se encaixa bem com as pretensões musicais do jazzista) e chega às agruras em “Inamorata and Narration”, que põe a natureza como contraponto da vida e da morte, talvez uma aura inatingível. Conrad Roberts fala, em inglês: “Masculinidade: mestre da música estranha. Que música é essa, que nenhuma descrição pode explicar? Os oceanos podem ser explicados?” (Aqui, vale dizer, Hermeto realmente soa como o diabo da contracapa).
Naquele tempo, Miles Davis fez uma afirmação que se encaixa perfeitamente no conceito de “Live-Evil”: “O jazz está mais próximo da música clássica que do folclore, e eu prefiro estar mais perto do folclore”. O disco realmente evidencia essa ponte com a música do gueto, com aquilo que realmente estava acontecendo nas ruas. Claro que utiliza muitos artefatos da abstração, mas pondera tudo isso com as impulsões que todos mantemos em nossos cotidianos. Essas impulsões ocorrem e muitas vezes passam batido. A profusão instrumental de cada integrante que contribuiu em “Live-Evil” perpassa por todos os sentidos imagináveis, inclusive o inferno que está oculto em cada um de nós, por mais que miremos os céus. Ouvindo o disco, você percebe que é muito mais que um jogo de palavras sabiamente pontuado por Miles.
O próximo passo foi “On the Corner” (1972), o último chamariz positivo de sua fase elétrica. Miles Davis queria confundir a crítica especializada. Não creditou nenhum músico nas sessões e não definiu os instrumentos utilizados na gravação.
Todo conceito é impactante: desde a capa amarela com desenhos de várias pessoas negras em um baile, dançando e curtindo como se realmente estivessem nos melhores momentos de suas vidas, até os repentinos batuques que iniciam o álbum. Aqui, Miles abraçou o funk de Sly Stone e, mais marcadamente, o de James Brown, sugerindo um diálogo com a psicodelia (à lá Funkadelic mesmo), com o agito do carnaval brasileiro, o rock e uma pitadinha de jazz, que pula a cerca da teoria musical para se tornar conceito – ainda que muitos jornalistas torcessem o nariz para as novas incursões musicais de Miles.
O trompetista provocou: “Não há nenhum crítico no mundo que sabe tanto de música quanto eu. Não coloquei os nomes dos músicos em ‘On the Corner’ especialmente por essa razão, para eles se perguntarem: ‘que instrumento é esse, o que é isso?’… os críticos têm que escutar”.
Logo na primeira faixa, “On the Corner/New York Girl/Thinking of One Thing and Doing Another”, uma junção de três temas que atingem exatos 20 minutos, as percussões de Don Alias, Mtume e Jabali Billy Hart entram em um colapso frenético, com órgãos e sintetizadores ligados enquanto Miles passeia livremente por inúmeras referências musicais negras – e bem modernas.
As parafernálias eletrônicas inseridas em seu trompete dão uma característica dançante e anárquica em “Black Satin”, uma música alienígena, do outro planeta – mas que te pega no meio do caminho (e olha que ‘só’ tem 5 minutos de duração). “One and One” soa mais ou menos como uma escola de samba de uma forma tão dançante que pareceria inimaginável de ser executada por um músico americano. Miles segue improvisando nas linhas instrumentais, mas a ‘sinfonia’ percussiva é tão empolgante, que você certamente ficará com vontade de dar batucadas no objeto mais próximo.
De acordo com o biógrafo Ian Carr, a ideia de “On the Corner” surgiu através das conversas de Miles com o arranjador Paul Buckmaster (que produziu “Space Oddity”, de David Bowie). Ambos falavam sobre a posição do revolucionário compositor alemão Karlheinz Stockhausen (1928-2007) no contexto musical, ponderando como se encaixariam suas teorias estéticas sobre eletricidade na música. Eis que Miles captou a essência e resolveu desordenar todas as referências europeias e cair de fundo nas influências orientais.
“Há interações vitais, particularmente entre instrumentos de corda (Herbie Hancock e John McLaughlin estavam nas sessões) e de sopro, mas as regras para a seção rítmica foram absolutamente quebradas. A cítara fornece um zumbido perpétuo e o brilhante entrelaçamento das duas baterias, a conga e a tabla, as linhas de baixo e os diversos riffs pertencem mais à África e à Índia do que a música extraída de ‘Bitches Brew’”, argumentou Carr.
O que contribui para a fantástica esquizofrenia deste disco é a intersecção dessas influências orientais com o conceito jazzístico e as habilidades de cada músico que participou das antropófagas sessões de “On the Corner”. Ao contrário de qualquer manifesto escrito, a vertigem sonora do álbum eleva a importância do gingado negro na música, reforçando a proximidade de Miles Davis com o folclore e com o movimento do que acontece nas ruas.
Colocar “On the Corner” ao lado do orquestral “Miles Ahead” (1957) ou da bossanovista “Quiet Nights” (1961) (ambos muito bons, diga-se de passagem) soa como uma contradição na carreira de Miles. Mas a própria história já evidencia: músicos que não cansam de si mesmos, não se cansam do establishment. Não fosse assim, jamais Duke Ellington ou Ray Charles cravariam os nomes em qualquer lista de grandes compositores do século XX. Ah, e podem colocar o nome de Miles Davis nesta seleção também.
Porém, como era de se esperar, Miles Davis se cansou de sua fase elétrica: “Vou me aposentar desse tipo de música, depois de hoje acabou. Já são quatro anos!”. O trompetista disse isso após finalizar “Big Fun” (1974), com alguns enxertos do seu prolífico período entre 1969-70, com exceção de “Ife” que, com todo o seu agito, só poderia ser uma sobra das sessões de “On the Corner”.
Ninguém deu muita bola para este lançamento. Nem mesmo Miles quis prosseguir com a divulgação, porque realmente estava sentindo que a fonte de ideias se esgotara. Depois disso, Miles ficou bastante afetado com a morte do jazzista Duke Ellington de câncer de pulmão e dedicou a faixa “He Loved Him Madly”, do disco “Get Up With It” (1974). Além de ser um adeus a um companheiro e bandleader que admirava profundamente, este disco foi a nota ressonante de sua fase elétrica.
Parte desse rompimento se deu porque Miles já havia perdido aquele estado de espírito que mudou o cenário musical entre 1968 e 1972. Tal reticência musical resultaria em um dos hiatos mais longos e tristes da carreira do trompetista: ele viciou-se mais uma vez em drogas (cocaína e heroína), gastou hordas de dinheiro em festas na sua casa com convidados estranhíssimos e rendeu-se à excentricidade. Alguns achavam que o jazzista nunca mais seria o mesmo ou que aqueles lampejos de genialidade musical haviam se dissipado. Miles chegou a ter sérios problemas psicológicos e quase comprometeu toda a sua habilidade no trompete.
Felizmente ele se recuperou com a ajuda de alguns amigos e, depois de cinco anos de silêncio, abraçou o funk em ‘The Man With The Horn’ e voltou com tudo ao cenário musical por volta de 1981. Mas aí, já é outra (grande) história.
Cronologia da fase elétrica de Miles Davis
– 1968: ‘Miles in the Sky’ – o primeiro disco do trompetista a ter um piano elétrico.
– 1969: ‘Filles de Kilimanjaro’ – cravou a influência de sua então esposa Betty Davis para os novos rumos musicais que viriam a seguir.
– 1969: ‘In A Silent Way’ – pioneiro do fusion, confundiu a crítica e os próprios músicos que tocaram com Miles Davis.
– 1970: ‘Bitches Brew’ – o revolucionário álbum que quebrou todos os paradigmas do jazz naquele momento.
– 1970: ‘A Tribute to Jack Johnson’ – o fusion jazz na sua forma mais limpa em um tributo pungente e sincero.
– 1971: ‘Live-Evil’ – o trompetista amadurece o conceito dessa nova vertente musical em um de seus melhores registros da fase elétrica.
– 1972: ‘On the Corner’ – Miles abraça o folclore e as ruas com forte intensidade percussiva.
– 1974: ‘Big Fun’ – apenas enxertos de sessões anteriores que refletem o cansaço do músico com as possibilidades já esgotadas.
– 1974: ‘Get Up With It’ – o adeus à eletricidade.
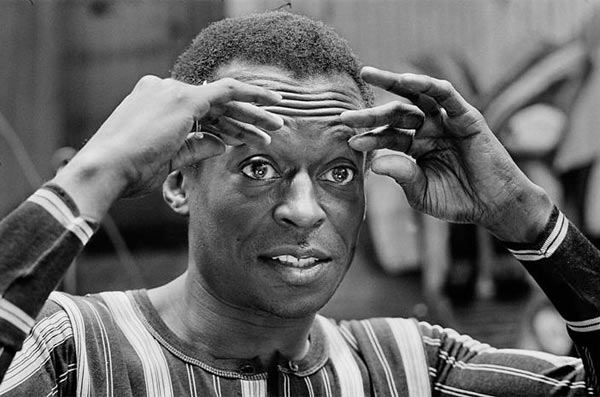
– Tiago Ferreira (siga @namiradogroove) é jornalista e assina o blog Na Mira do Groove
Leia também:
– A História de “Kind of Blue”, uma das obra primas de Miles Davis, por Marcelo Costa (aqui)
Excelente artigo, Tiago.
Miles Davis é o exemplo perfeito do que um artista deve ser/ter, que é buscar sempre novos ares para sua arte.
Do Bitches Brew eu gosto(muito) do lado B, o lado A acho enjoado.
E o Tributo a Jack Johnson e o On The Corner são ótimos, mas suas sobras – chamadas Sessions – são até melhores!
Gosto muito do trabalho do Guizado – fortemente influenciado pelo Miles – tenho certeza que se o negão invocado ouvisse o Punx do Guizado diria em tom de elogio:
Son of the bitch!
PS: Uma pena enorme o tão falado disco que poderia vir a existir de Hendrix com Miles nunca ter sido feito. Os deuses da música desafinaram nessa.
Sensacional, li sem respirar!!!!!!!!!!!!!!
Parabés pelo texto. Fazer um texto sobre o Miles Davis é sempre uma tarefa complicada.
Meu disco preferido dele nessa fase é o Live-Evil, um caos completo.
Cassetada, Tiago. Você deu uma grande aula sobre como escrever sobre música.
Parabéns pelo ótimo texto!
Amei o artigo.
Estou esperando a outra grande história hein! Muito bom!
Miles é gênio.
O mundo precisa de mais textos como este, Tiago! haha..
Miles é como um diretor de cinema.. você ouve o disco e consegue imaginar certamente uma sequencia de cenas, que vão da agonia ao orgasmo (pelo menos comigo isso acontece)..
É difícil eleger o melhor trabalho dele, mas eu fico certamente com a fase live evil – on the corner.. é de uma excentricidade e descaso únicos no mundo da música..
Galera, muito obrigado pelos elogios.
Já tem um certo tempo que escrevi este texto, mas qualquer dia aí retomo pra outra fase do trompetista.
No texto acabou escorregando um pequeno erro: quem recita a frase de “Inamorata and Narration”, do excelente ‘Live-Evil’ (1971), não é Hermeto Pascoal – e sim, Conrad Roberts.
Abraços!
Cara que texto legal !!! Mas ficou uma dúvida…desculpe a ignorância mas os discos Pangea, Agharta e Dark Magus são trabalhos ao vivo né ???? Por isso não foram listados ?
Cara..eu adoro esta fase…mesmo os menos festejados Big Fun e Get up with it são ótimos na minha opinião !!!!
Ouvindo aqui Tibuto a Jack Johnson…
Right off é um nocaute. Já Yesternow são seguidos jabs.
Mas não se esqueçam de procurar as sobras(sessions), que de sobras não têm nada, desse disco.
Tem, inclusive, Little Church do Hermeto.
Muito bom.
Me bateu uma tremenda vontade de escutar os albuns do mestre Miles Davis, e é isso que irei fazer já que estou casa em um dia chuvoso na região de Belo Horizonte – MG.
Abs
Oi Fábio,
Não citei exatamente por serem discos ao vivo, isso mesmo.
Abraço!
Tiago,
Parabéns pelo texto, complexo e muito informativo !!!
fantástico
Wagner Xavier