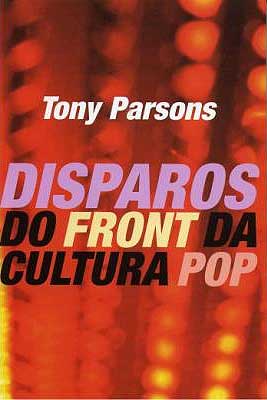
‘Disparos do Front da Cultura Pop’, de Tony Parsons
por Marcelo Costa
Texto publicado originalmente no Scream & Yell em 14/12/2005
Estamos em 1976 e um jovem jornalista está prestes a “cravar” a sua primeira grande reportagem no badalado semanário britânico New Musical Express. Tony Parsons tem apenas 23 anos, mas fala com toda certeza que existe no mundo: “Agora preste atenção. Se os beatos hipócritas que governam nosso país banirem essa turnê da sua cidade, levante sua bunda cansada e vá para a cidade próxima, ou talvez nem tão próxima, até a chance de conferir os shows. Porque, se você perder essa chance, duvido muito que tenha outra oportunidade de ver uma turnê como essa de novo. E se você não for, tudo o que posso dizer é que você é um idiota”. Os shows em questão faziam parte da (hoje) histórica turnê que uniu, no mesmo palco, Sex Pistols, Damned, Heartbreakers e Clash. O resto é história.
Um amigo jornalista ironizou o lançamento de “Disparos do Front da Cultura Pop” (Editora Barracuda), livro coletânea que reúne textos de Tony Parsons entre 1976 e 1994, dizendo que se muitos jornalistas brasileiros copiavam o modo de escrever dos britânicos tendo acesso aos raros New Musical Express que apareciam por aqui, imagina agora, com um livro como esse dando sopa em qualquer livraria. Porém, não podemos desprivilegiar um público ávido por textos decentes sobre música apenas porque uma meia dúzia de gatos pingados não tem o mínimo pudor de roubar frases, sentenças e idéias de outros para tentar cobrir a sua total falta de inspiração, senso crítico e profissionalismo. E de mais a mais, o estilo próprio é mesmo uma mistura da essência pessoal de cada um com aquilo que ele mais admira. Ninguém nasce sabendo. Também não dá para crescer às custas dos outros. Não só no jornalismo, mas em qualquer outra profissão, é preciso ter um mínimo de vergonha na cara.
“Disparos do Front da Cultura Pop” é uma aula de jornalismo cultural e pode ser visto de vários ângulos. Do mais óbvio, flagra, no início, um jovem jornalista disposto a mostrar serviço com um texto afiado e bastante opinativo. Ali pelo meio escorrega um pouco para o jornalismo gonzo (o que é uma pena), mas depois volta triunfante para o território das grandes reportagens. Parsons, após começar bem no jornalismo, acabou por se tornar um grande escritor. “Pai e Filho”, romance de 2001 que ganhou edição nacional pela Sextante, foi eleito livro do ano pela crítica inglesa. Não é nada ruim. O cara é bom no que faz, e no fim é isso que importa. Em “Disparos”, ele escorrega em apenas um ou dois textos, o que é mais elogioso do que problemático se levarmos em conta que o livro compila 55 reportagens. A liberdade jornalística, na verdade, é uma benção que pode se transformar em um pesadelo, e isso pode ser muito bem comprovado no livro. As palavras mudam de sentido dependendo de onde você olhe. É preciso clareza de opiniões e, sobretudo, é preciso ter as opiniões certas. E não adianta: todo mundo sabe reconhecer isso, não queira disfarçar. Parsons usa bem as palavras, mas em ao menos dois casos suas opiniões são bastante questionáveis.
“Disparos do Front da Cultura Pop” traz 55 textos e é dividido em cinco capítulos: Música, Amor & Sexo, Polêmicas, Viagens e Cultura. O capítulo Música é, disparado, o melhor. Parsons registra com palavras diretas (de esquerda no queixo) o nascimento do punk entrevistando o Clash (“Ninguém sabe o que é comprometimento absoluto até conhecer Mick Jones, do Clash”), o Generation X de Billy Idol (no delicioso texto “Punks limpos: uma ameaça às nossas crianças”), assistindo The Jam em uma pocilga, embarcando com os Pistols no histórico show no Tamisa no Dia do Jubileu da Rainha da Inglaterra (“Dois camburões foram lotados rapidamente, em grande parte por pessoas próximas aos Pistols. Transeuntes vestidos com as cores do Jubileu caminhavam distraidamente pelo local – como se fosse um filme. Os policiais distribuíam golpes mesmo quando você não estava se mexendo, e se safaram porque são a lei e porque podem”) e a turnê dos Ramones nas ilhas (“Esqueça toda a merda de arte minimalista e obscura. Você precisou de um dicionário para ler Homem-Aranha? E de um bacharelado para gostar de The Ronnetes? A cirurgia cerebral dos Ramones está lá para ser curtida; meu Deus, eles são divertidos”). Tudo isso em 77.
Porém, os melhores textos sobre música do livro não têm nenhuma relação com o punk. Um relato de um show do Bruce Springsteen, em Nova York, 1978, é de corar a alma. Um dos cinco textos de cultura mais emocionantes que já li em toda a minha existência. Parsons relata: “Este não é simplesmente o melhor show que já vi na vida, é muito mais que isso. É como você ver a sua vida inteira passar por você e, em vez de morrer, você está dançando”. Mais para frente, nos camarins: “Bruce está acabado. Vamos ter que cancelar a entrevista”, diz o empresário. “Normalmente, eu saberia que estão me enrolando e o astro do rock que eu estava pronto para interrogar deu o fora, voltou para o quarto do Ritz com um grama de cocaína e estaria neste momento se revirando no fundo de uma limusine com as calças de couro na altura dos tornozelos e uma inconfundível groupie sentada sobre ele. Com Springsteen é diferente, tudo o que consigo pensar é… Deus, tomara que ele esteja bem”. O empresário convida. “Você pode vir ao camarim e conhecer Bruce, se quiser”. O jornalista pára. “Acredite, eu conheci todos eles… Led Zeppelin, Rolling Stones, Sex Pistols, e quem mais você imaginar. Nunca na vida eu tinha ficado petrificado só de pensar em conhecer um músico antes”. E o que seria apenas um “oi, tchau” acaba se transformando em uma mini-entrevista. Além de Bruce, a parte de música do livro traz entrevistas simplesmente antológicas com David Bowie, George Michael, Morrissey e Brett Anderson, entre outras. As duas últimas foram feitas na própria casa de Tony Parsons e sobre Morrissey o jornalista escreve: “Você espera (…) tudo menos um homem troncudo de Manchester, que fala de futebol e bebe cerveja direto da lata”.
Após ler o capítulo Música fica-se com a impressão que nada no livro poderá superar esta abertura. Bobagem. Os textos sobre Amor & Sexo são impagáveis e divertidos. Parsons define com propriedade a “garota do rock”, discursa com bastante eloqüência sobre “compromisso” (“Uma mulher pode perdoar quase tudo do homem que ama. Ela perdoa a infidelidade, a bebedeira e a ejaculação precoce – apesar de provavelmente não perdoar tudo na mesma noite. Ela vai perdoar se ele dormir imediatamente após o sexo. Ela vai perdoar se ele dormir imediatamente antes do sexo. Mas a única coisa que uma mulher nunca vai perdoar num homem é a falta de compromisso”), detona pseudo-feministas, fala do que mais importa na vida para um homem (“O desempenho na cama: as mulheres querem ficar abraçadas depois, os homens querem uma nota”) e disseca o que nós latinos conhecemos como paixão no texto “As Rosas são Vermelhas, Violetas são Azuís” (“O romance torna a vida mais doce, mas mais difícil também”).
Um pouco abaixo vem o capítulo Polêmica, que permite a Parsons mostrar que até mesmo um jornalista afiado, fã de boa música e delicado o bastante para falar sobre amor também pode ser babaca. Os textos “A Selva Tatuada” e “Lixo na Ruas” são fracos em argumentação e obscuros em qualidade. No primeiro, Parsons aponta sua caneta para a classe média operária britânica tentando criar o estereotipo do que poderia ser identificado como um hooligan, um cara mal-encarado, beberrão e brigão, além de péssimo perdedor ou mesmo vencedor, segundo definição do jornalista Ivan Lessa, da BBC Brasil. Na visão de Parsons, esse ser passeia pelos subúrbios de Londres com rottweilers, bebe cerveja Tennents e é tatuado. Ao tentar identificar o “inimigo”, Parsons escreve um pequeno libelo antitatuagem e antibebida, como se ter tatuagens e beber cerveja de manhã fossem as piores coisas do mundo. O retrato que cria de sua sociedade chega a ser convincente, mas na ânsia de provar sua tese, o jornalista acaba disparando contra tudo e todos. Ao final, não convence. O mesmo pode ser dito sobre o segundo texto, que ataca indiscriminadamente todos os mendigos, como se a pobreza fosse uma escolha pessoal, não um mal da sociedade moderna. “Acho que meu pai teria preferido nos ver passar fome a sair por aí pedindo esmola para o jantar”, diz em certo trecho, com propriedade. Porém, ao final o jornalista joga boas observações pela janela ao escrever: “É nosso dever passar direto por eles, cuspindo metaforicamente nas palmas sujas de suas mãos estendidas, entoando nosso protesto contra um mundo que está mudando para pior para sempre”. Caro Parsons, se o mundo está mudando para pior a culpa não é só dos mendigos. É sua, é minha, é da sua Rainha e do meu Presidente, sem contar os governadores e prefeitos ineficientes. Era sobre isso que eu estava dizendo quando disse que a liberdade jornalística pode se transformar em pesadelo.
O capítulo Polêmica, no entanto, não consegue apagar o brilho de outros textos sensacionais espalhados pelo livro. Parsons, na maioria das vezes, segue na linha exata do jornalismo que abraçamos ao criar o Scream & Yell quase dez anos atrás. Um jornalismo passional, que permite ao leitor vislumbrar que existe alguém pensante por trás de um texto, que existe uma pessoa com opiniões, que, no entanto, não é a principal razão de existir de uma entrevista. O jornalista é importante como entrevistador, não como entrevistado. Não quero saber se a narina direita de Tony Parsons não funciona de tanto que ele usou cocaína, mas gosto da maneira com que ele “arranca” as palavras de Morrissey, e é essa a sua função. “Disparos do Front da Cultura Pop” é uma obra fundamental para mostrar tudo que o jornalismo cultural tem de bom, e um pouco do que também tem de ruim. É sublime em grande parte, e detestável em algumas páginas. Não é para ser tomado como um “manual do jornalista fodaço”, embora centenas de jovens jornalistas irão ter tendência a fazer isso. Na verdade, mais do que boas reportagens, o livro serve para mostrar por a+b que uma boa argumentação é quase um grande texto, mas lembre-se que influência é uma coisa, cópia é outra. Além do mais, você nunca vai usar um texto como os de “Disparos do Front da Cultura Pop” em uma Folha de São Paulo da vida, ao menos se você não for tão fodaço quanto um tal André Forastieri, um dos poucos jornalistas brasileiros que alcançou (e em muuuuuitos casos ultrapassou) o nível de qualidade dos textos de Tony Parsons. A receita, na verdade, é só ser genial. Parece simples, não?
“O fim dos anos 70 era a época ideal para se trabalhar num semanário de música. […] Era um lugar excelente para um jovem jornalista aprender a profissão porque parecia que todos os jovens do país que conseguiam ler sem mover os lábios compravam o jornal. Fiquei três anos no NME e todos os dias eu entrava na redação com um arrepio de excitação, imaginando o que ia acontecer. […] Comecei na música e para alguém da minha geração sortuda – bebê quando Elvis vestia 38, criança durante a Beatlemania, adolescente quando Bowie começou a fazer sucesso, jovem durante o movimento punk – a música sempre vai ser importante. Nasci na época certa.” [Tony Parsons]
*******
Marcelo Costa é, desde sempre, editor do Scream & Yell
*******
Leia também:
– “Criaturas Flamejantes”, de Nick Tosches, por Gabriel Innocentini (aqui)
comprei esse livro por causa desse texto! valeu cada centavo.
https://twitter.com/Theuziitz/status/414934415756648448