Search Results for "Tim Festival"
Dez links
01) Conheça Irmã Doris, última freira cervejeira da Baviera (aqui)
02) No El País: “La música cubana es el alma del pueblo” (aqui)
03) 100 contos de Borges e Cortazar para ler online (aqui)
04) Ele seguiu seu iPhone roubado nos EUA até o Japão (aqui)
05) “O sujeito contemporâneo na literatura de Nick Hornby” (aqui)
06) Alice Gelli indica 10 podcasts inspiradores (aqui)
07) A incrível história do baterista do Inspiral Carpets (aqui)
08) Games vs Rock: há espaço para os dois na cultura pop? (aqui)
09) Festival Cultura Inglesa confirma Johnny Marr (aqui)
10) Porto Alegre: nove cervejarias em um bairro (aqui)
abril 5, 2015 No Comments
15 respostas sobre Bizz e jornalismo
“Eu estou me formando em jornalismo e a ideia do meu TCC é escrever um livro sobre a história da revista Bizz – para isso quero entrevistar jornalistas, leitores e algumas bandas que fizeram parte dela”, Gabriela
Eu começo meu livro falando das vantagens de ter sido jovem durante os anos 80. Você concorda que foi uma juventude bem diferente de hoje? Acha ela melhor de alguma forma? Por quê?
Foi diferente, mas isso não quer dizer que foi melhor ou pior, apenas que aconteceram coisas naquele período diferentes das de outro. Estávamos saindo de uma ditadura e vivendo um momento de abertura política; os yuppies estavam em ascensão; o futebol brasileiro começou aquela década como o melhor do mundo e terminou de forma vexatória (nesse caso, e eliminação precoce da equipe de Lazaroni em 1990 não foi tão marcante quanto os 7 a 1 que a seleção do Felipão amargou); havia, de certa forma, muita expectativa e esperança pelos anos futuros; aids e internet estavam começando a se proliferar, e, cada uma a seu modo, a mudar as relações das pessoas; ainda assim não acho que tenha sido uma juventude melhor ou pior do que agora: cada época tem suas particularidades e, muitas vezes, as pessoas tendem a deixar que a nostalgia valorize determinado período, mas nunca vou achar que jogar futebol na rua com os amigos, como eu fazia, seja melhor ou pior do que a molecada que passa o tempo livre jogando videogame dentro de casa. A sociedade passou séculos buscando maneiras para ocupar o tempo livre, e parece que agora encontrou uma forma bastante interessante. Se eu pudesse voltar ao passado e escolher, continuaria jogando bola no campinho de terra do fim da minha rua (é a minha nostalgia), mas também ia querer ter um computador…
Como foi pra você ser jovem naquela época? Você frequentava as danceterias? Como conhecia as bandas da época?
Para mim foi especial crescer num momento de abertura política em que o rock foi escolhido como válvula de escape por um povo que passou 21 anos silenciado pela ditadura. E eu não só ia a danceterias como organizava bailinhos com amigos (um deles era mestre em criar jogos de luzes mirabolantes) e rodava a cidade tocando discos, na função de DJ mesmo, e conhecia todas as bandas, até as mais independentes, mas isso em Taubaté, uma cidade que (mesmo entre Rio e São Paulo) parecia longe demais das capitais…
Por que acha que o Brasil precisava de mais uma revista de música em 1985? O que significou para o país o surgimento da Bizz?
Na verdade, um grupo de pessoas percebeu a ascensão de um público que estava interessado em consumir música, mas não só discos, informações também. E o primeiro Rock in Rio já era um sinal disso (sem contar que já havia outras revistas de música no mercado, como a Som Três, que era de instrumentos, mas também tinha reportagens; acho que a Roll é dessa época também). O surgimento da Bizz, no entanto, significou o nascimento de um novo modelo de jornalismo cultural, mais aprofundado, especializado e interessado em abastecer o público com novidades. A primeira fase da Bizz é exatamente isso: pegar grandes ícones do rock e apresenta-los ao público sem aspas, sem entrevistas, quase uma biografia da banda mesmo.
Com quantos anos você começou a ler a revista? Por que você lia ela, o que te atraia?
Comecei a ler com 15 anos, ou seja, no ano em que ela foi lançada. Eu já era interessado por música, tinha os bailinhos, já comprava os meus discos desde o meu primeiro emprego, um ano antes, já lia a Ilustrada, da Folha de São Paulo. A Bizz me atraia porque ela ampliava o leque de informações que eu tinha sobre artistas que eu já conhecia, mas sabia pouco, tanto quanto fazia me interessar por novos.
Você tinha uma seção preferida? Qual e por quê?
Sempre gostei da seção de Resenhas, da Discoteca Básica e do Entrevistão, clássicos das primeiras edições. Mais pra frente fui um fã da seção Zona Franca. Gostava da seção de Resenhas porque me mostrava uma maneira diferente de olhar para um disco, mesmo quando eu não concordava (e isso acontecia bastante). A Discoteca Básica era a seção de clássicos, discos que eu nem sabia que eu tinha que ouvir, mas tinha! O Entrevistão era interessante porque era mais profundo enquanto a Zona Franca surgiu num momento pré-internet e alertava sobre coisas que poderia ser muito interessante ir atrás.
Você ainda lia a revista na época da “Showbizz”? Acho que essa fase da revista foi muito cruel com os leitores e com a própria revista (a quebra da marca foi algo muito bizarro também). Muitos culpam o surgimento da música eletrônica pelo fim da Bizz e início da Showbizz. A revista não soube acompanhar o estilo, já que era uma música “sem rosto”. Você também acha que o erro começou por ai?
Como eu não estava na redação fica difícil avaliar uma mudança dessas. Para mim, claro, foi um choque: a mudança do nome, do logo, a adoção do formato tabloide, mas algumas das seções continuaram boas como sempre foram, por isso continuei comprando e lendo.
O quanto você acha que uma revista pode mudar por conta da indústria musical? Qual o papel da indústria na manutenção da revista?
A indústria é uma parceria sem ser parceria da revista. Da parte dela espera-se que ela abasteça o mercado de artistas interessantes que possam ser temas para a revista. Se a indústria não tem ninguém interessante, a revista não tem porque existir, ou então vai ter que apelar para o passado.
Você acha que houve uma “caretice” do jornalismo musical? É difícil achar algum lugar que publique textos tão doidos e engraçados como os da Bizz.
O jornalismo musical sobrevive nos blogs. Além disso, a internet nos permitiu ter acesso a cadernos de cultura espetaculares como o do New York Times, do Guardian e do El País, assim como veículos interessantes como a Pitchfork. Lógico, eles falam 0,01% de música brasileira, mas, atualmente, a música brasileira que importa não vende revistas, então fica difícil manter uma revista como a Bizz.
Você acha que as críticas musicais ainda têm seu papel? Na Bizz elas não eram tão chapa branca como hoje. Por quê?
As críticas continuam tendo um papel importante sim, até porque o crítico também atua como curador: ele está ali atento às centenas de discos que caem na web e são lançados mensamente e escrevendo sobre aqueles que ele acredita que o público deve dar atenção, porque as pessoas comuns não tem tempo para irem atrás de todos os lançamentos. Quanto a chapa branca, existem veículos e veículos: é complicado comparar a Bizz com publicações de linha mais conservadora, menos anárquica. Ainda assim, na web brasileira já existiram sites extremamente ácidos no que diz respeito à crítica, muito mais do que a Bizz.
Hoje os jornalistas têm mais medo das bandas do que as bandas dos jornalistas – rs. Há um medo de criticar? Como você faz a sua crítica? Você acha que ela tem que ser levada sempre pelo lado pessoal ou tem que ser algo mais pensado no gosto do leitor?
Difícil analisar sem exemplos: você diz que jornalistas tem medo de bandas: quais jornalistas? Não sei, mas acho que você está confundindo medo com amizade e admiração. É o caso do jornalista que gosta realmente de tal artista, e fala bem porque ele realmente acha aquilo. Não sei se existe medo de criticar, precisaria de exemplos. No meu caso, eu busco entender o objeto de arte – disco ou show ou festival ou filme ou… – no espaço/tempo: o que esse objeto representa para o tempo que a gente vive, o que ele está apontando. O que a crítica precisa buscar é entender o objeto de arte dentro de um todo, porque ele não está isolado: se os Beatles surgissem em 2010 e não nos anos 60 seriam outros, porque o ambiente influencia a pessoa. Desta forma, essa análise é totalmente pessoal porque diz respeito aos signos que cada pessoa adquiriu durante a vida, e que a fazem olhar o mundo (e escrever sobre) de forma particular. Há similaridades entre opiniões sim, mas um texto crítico pode dizer mais sobre o crítico do que necessariamente sobre a obra. Quanto ao leitor, a ele cabe ler, refletir, discordar ou concordar. Ele não diz respeito ao crítico e o crítico não tem que escrever pensando em agrada-lo. É como a relação do juiz com a torcida em um estádio de futebol: a torcida pode gritar, espernear e falar o que quiser, mas o juiz tem que agir com a sua consciência.
Você acha que a internet estragou o consumo de jornalismo musical ou que ela ajudou? Você vê um futuro pra esse tipo de jornalismo?
Ajudou e muito. A internet permitiu que as pessoas, qualquer pessoa, tivessem acesso a um mundo de coisas que ela desconhecia, incluindo ai grandes jornalistas culturais do mundo. Sem contar que ampliou o leque da profissão: se você contar quantas pessoas trabalhavam exclusivamente com jornalismo musical nos anos 80, 90, 00 e agora, é possível que agora o número de profissionais seja três, quatro vezes maior. Ou seja, o futuro é agora.
Querendo ou não, a Bizz foi a revista de música que mais durou no país. Qual foi o segredo de sucesso dela? E por que acha que acabou? Você acredita que esse é o futuro das outras revistas de música pelo mundo?
A Bizz surgiu na hora certa e acompanhou um mercado primeiramente em crescimento, depois em declínio. Essa foi sua cruz e sua espada. Não há como ter uma revista de música em um país cujo mercado da música é uma piada. Talvez uma revista cômica. Quanto ao resto do mundo, depende de cada mercado. O mercado português suporta uma Blitz, o mercado europeu suporta NME, Uncut, Mojo e Q, o mercado norte-americano suporta uma Rolling Stone.
Sobre o Scream & Yell, de onde surgiu a ideia de criar o site? Qual é o número de visitantes diários do site?
Entre 4 mil e 5 mil. O site surgiu da vontade de mapear uma cena local que era muito bacana, falar para outras pessoas de bandas que gostávamos não só da cidade, mas bandas de todo lugar que eram ignoradas pela Bizz, pela Ilustrada e por diversos outros veículos.
O que você acha que atrai o leitor para o Scream & Yell? O que ele tem de diferente das revistas e outros sites de música?
Tentamos (nem sempre com seguimos, é preciso admitir) aprofundar a discussão sobre um disco, um filme, um livro. Nas entrevistas tentamos entender o entrevistado, ir além de onde os veículos impressos (presos no limite dos toques e do papel) conseguem. Nunca foi uma forma deliberada de buscar público, mas sim de responder a dúvidas que nós mesmos tínhamos (e ainda temos). De alguma forma, certa parcela de público nos achou, e nos adotou. Fico feliz e agradecido com isso, embora ter ou não ter público não é a questão em um site independente e gratuito, mas sim sermos sinceros com a gente mesmo. Se ser sincero atrai leitores, ótimo. Se o leitor ficar incomodado com a sinceridade, paciência. A vida segue.
Agora que a Bizz acabou, quais são suas fontes de informações musicais? Nisso eu sei que a internet ajudou, mas como achar o site mais confiável, de credibilidade, para saber sobre música?
Minha fonte é o Scream & Yell, as fontes que abastecem o Scream & Yell, e desconfio que hoje em dia eu iria ser um leitor menos assíduo da Bizz exatamente por estar atuando na mesma área que a revista. Pra que eu vou ler uma entrevista com a Banda do Mar na Bizz se eu posso fazer uma entrevista também? Lógico, existem alguns jornalistas cuja opinião me interessa, de que eu gosto do texto, e quero ler, e se for numa revista eu vou comprar. Por exemplo, gosto das entrevistas do El País e do Guardian, mas raramente leio críticas porque elas podem influenciar o meu pensamento na hora de eu escrever a minha crítica, e eu prefiro tentar ter uma ideia própria, que pode até ser próxima da do Guardian (ou qualquer outro veículo), mas ainda assim é própria. A questão, no entanto, é analisar e entender o crítico, o veículo: isso lhe dará chaves para confiar e mesmo discordar quando determinado jornalista/jornal fala bem disso ou mal daquilo (nesses tempos de eleições isso é importantíssimo).
Veja outras entrevistas aqui
setembro 22, 2014 1 Comment
La Route du Rock: lama e Portishead

O festival francês La Route du Rock existe desde 1991 na Bretanha Francesa e tem uma história tradicional de crescimento moderado, ano a ano, até alcançar o recorde de público, com 27 mil pessoas em um dia para ver The Cure em 2005 (em 2007, com Smashing Pumpkins de headliner, a soma de público alcançou 24 mil espectadores). No ano seguinte, 2006, a produção decidiu fazer duas edições anuais do evento, uma no inverno, outra no verão, esta última encabeçada pelo Portishead em 2014.

A casa principal do festival, que também oferece concertos gratuitos em alguns lugares de Saint Malo durante o fim de semana do evento, é o Forte de Saint-Père, construído no século XVIII, durante o reinado de Louis XVI, para proteger a França dos ataques dos corsários ingleses. Como o forte está localizado na cidade de Saint-Père-Marc-en-Poulet, 9 km ao sul de Saint-Malo, a produção oferece ônibus gratuito para ir e voltar do festival saindo de três pontos de Saint Malo (com o último ônibus saindo 5 da manhã).

Dai você pensa: um festival que existe a mais de 20 anos cujo line-up 2014 reúne nomes como Portishead, The War on Drugs, Kurt Vile & The Violators, Metz, Liars, Anna Calvi e Slowdive (entre muitos outros) e que acontece em um forte francês do século 18? Deve ser bem chique, certo? Na verdade é um chiqueiro. Como já disse um produtor (inexperiente) de grande festival no Brasil, lama (e feno molhado deixando cheiro de urina no ambiente) faz parte do imaginário de um festival de rock, mas para tudo há um limite.

No caso do La Route du Rock, edição de verão 2014, esse limite já havia sido ultrapassado na área de entrada do festival, no terceiro dia do evento, quando uma piscina de lama recebia o animado público. Aqueles que não foram preparados (90% se arma de galochas, mas há uns 8% de desavisados e mais uns 2% de corajosos que enfrentam o lamaçal de tênis ou mesmo chinelos de dedos) irão se arrepender profundamente, e mesmo a turma da galocha pode cair numa armadilha de tropeçar e nadar na lama (aconteceu).

Não que o festival deva ser sempre assim, muito embora numa região marcada por chuvas deva ser difícil imaginar a grama do forte resistir a 20 mil fãs de música um dia que seja, mas a grande questão é que fica difícil se concentrar na música quando o ambiente em torno de você chama mais a atenção (e a preocupação) do que o que está acontecendo no palco. Desta forma, os artistas do terceiro dia do festival tiveram que conquistar não só a atenção do público, mas também desviar essa atenção do cenário deprimente de lama e feno.

Nesse ponto, Anna Calvi surpreendeu com um show bastante eficiente, que mostra que a cantora está se distanciando das comparações com PJ Harvey e adquirindo personalidade própria. Isso ficou evidente na postura de Calvi, incorporando momentos hendrixianos e solando muito, e no próprio set list: após abrir a noite (de sol) com “Suzanne & I”, de sua estreia (“Anna Calvi”, 2011), quatro canções seguidas de “One Breath”, de 2013, mostraram fé no novo repertório. Uma cover da sessentista “Jezebel” pós fim ao ótimo show.

Na sequencia, após um show matador em Oslo, no Øya Festival, o Slowdive chegava à Bretanha com sua turnê de retorno mudando absolutamente nada do repertório, o que facilitou a comparação dos dois shows, com o de Oslo, numa tenda (seca) sendo quilômetros superior. Não a toa, a primeira frase de Neil Halstead antes mesmo da guitarra soar no forte foi: “Ainda bem que parou de chover”. Ainda que inferior ao show do Øya, a apresentação no La Route colocou sorrisos guitarreiros na cara de muita gente (até da Rachel).

Já com a noite escura (o que tornou o ambiente do festival mais caótico), o Portishead subiu ao palco para produzir mais um show irreparável. O set list praticamente não muda (mas a banda atualizou as belas imagens do telão que interagem com a câmera ao vivo), a voz sofrida de Beth Gibbons continua comovente enquanto riffs e batidas eletrônicas convidam o espectador a dançar numa cintilante festa fúnebre que transforma a execução de canções como “Sour Times”, com o telão do fundo de palco “estendendo” uma cortina branca e simulando um cabaré, em momentos absolutamente mágicos.

O show continua sendo aberto pela voz do brasileiro Claudio Campos declamando a “Regra Três”, introdução de “Silence”, faixa de “Third” (2008), terceiro disco do Portishead, e base para o show (com cinco canções fixas no set list mais “Chase the Tear”, lançada em 2009). Dos dois primeiros álbuns saem pérolas como “Mysterons”, “Wandering Star”, “Over” e “Cowboys” além, claro, de “Glory Box”, que pode ser tocada quantas vezes for, e continuará arrepiando. No bis, “Roads” e “We Carry On” encerram um show especial.

O balanço de apenas um dia de La Route du Rock é, no entanto, negativo. Os três grandes shows da noite, que ainda teria Liars pela frente (vencido pela dificuldade de suportar as péssimas condições do ambiente), mereciam um local melhor, pois poucas vezes o ditado “pérolas arremessadas na lama” caiu tão bem quanto aqui para explicar um festival de rock. Pretendo voltar para a Bretanha para conhecer melhor St. Malo, ir ao Monte Saint-Michel e esticar até a Normandia, mas provavelmente evitarei o La Route du Rock. Se vier traga galochas, prepare o nariz e torça muito para não chover.

Ou então curta a bagunça. É sempre bom pensar que algo que uma pessoa não gosta, outra pode curtir. Eu, por exemplo, nunca iria ao Glastonbury. São muitos palcos, é muita lama, é muito longe da cidade e meu corpo cansado precisa de uma cama após uma maratona de shows. Tem gente que prefere acampar, e isso é legal. Saint Malo, ao menos em 2014 (vai que em 2015 faz uma semana de sol na Bretanha) não foi um festival para mim, fã de festivais urbanos como Primavera Sound e Øya Festival, ou mesmo Benicàssim, Rock Werchter e Best Kept Secret. O segredo, na verdade, é encontrar o seu tipo de festival. E se jogar. Vai um balde de lama ai?

Fotos 1, 2, 4, 5 e 6 por Marcelo Costa
Fotos 3, 7, 8, 9, 10 e 11 por La Route du Rock (veja galeria)
agosto 22, 2014 No Comments
O desejo de voltar a St. Malo

A despedida de Amsterdam não podia ter sido melhor: show dos mineiros do TiãoDuá, coxinha e uma última volta pela encantadora área central da cidade. Na manhã seguinte, 6h e pouco, trem para Paris, troca de estações e trem para Saint Malo, na Bretanha francesa. Primeiro desafio: descobrir como chegar a estação central de Amsterdam ás 6h sem gastar muito, já que o transporte público na cidade começa mais ou menos nessa hora. O recepcionista do hotel deu a dica: “O ônibus noturno: é uns 2 euros mais caro, mas levará vocês”. Deu certo.

Com mais de 50 garrafas divididas em três malas, o plano arquitetado na noite anterior ditava que deveríamos deixar as três malas pesadas no locker do Gare du Nord, em Paris, na quinta-feira, e seguir para a Bretanha apenas com o necessário, já que voltaríamos para a capital francesa no sábado à tarde. Teríamos que fazer isso rápido, porque nosso trem para Saint Malo sairia exatas 1 hora e 10 minutos da Gare de Montparnasse após nossa chegada na Gare du Nord, mas as coisas tinham que ser com emoção, muita emoção.

Achar a área de lockers na Gare du Nord foi o primeiro desafio, entender o funcionamento do pagamento após o segundo dia, outro desafio, e assim nos vimos com menos de 30 hora para chegar a Montparnasse. Descartamos o metrô e partimos no desafio de pegar um taxi em Paris (as anedotas não costumam ser engraçadas). Gentilíssimo, o motorista fez um caminho alternativo (diferente do que eu seguia pelo Google Maps) e nos deixou na porta da estação exatamente na hora em que nosso trem sairia. Nem Usain Bolt correria tanto…

Detalhe: na Gare de Montparnasse, as telas que orientam as partidas de trem estavam desligadas, e não havia nenhuma informação de plataforma. Colei em alguém da estação, que olhei meu bilhete e mandou: “Deve ser na plataforma 1 ou 2”. Só havia um trem na 1 e partimos em disparada para o local. Portão fechado. Assim que ameaçamos abrir a boca, o funcionário que SNCF desembestou a falar, e o que entendi é que ele estava se desculpando, mas chegamos atrasados mais de dois minutos, e o trem iria partir (sem nós).

Enquanto o cara falava, para nossa sorte, outras pessoas atrasadas chegavam ao portão, e quando o grupo já somava oito rostos pedindo por favor para embarcar, o cara foi procurar o superior, que… autorizou a entrada. Segundo desafio cumprido. O terceiro era torcer para que o dono da pousada que iria nos abrigar em Saint Malo, e que mandará um email em francês dois dias antes dizendo que não havia quarto de casal disponível (a reserva foi feita em maio!), conseguisse qualquer quarto para nós, afinal tudo estava lotado na cidade no fim de semana.

Saint Malo foi fundada no século 1 antes de Cristo e a parte murada da cidade (Intra Muros) construída no seculo XII pelo Bispo Jean de Chatillon. É uma típica cidadezinha balnearia, com 51 mil habitantes que se transformam em quase 300 mil no verão europeu. Surgiu no nosso planejamento de roteiro quando eu procurava algum lugar para ver (mais uma vez) o Portishead ao vivo, e calhou da data deles no festival La Route du Rock bater com o espaço vago na agenda, mas o que me convenceu foi essa foto no Google Images.

A chegada de trem é na parte nova da cidade, não muito diferente do que se vê pela janela durante a viagem. Já a região Intra Muros é de tirar o fôlego. Ainda que exageradamente explorada comercialmente, com creperias, lojinhas de quinquilharias, restaurantes e o diabo a quatro, a área Intra Muros é uma viagem no tempo que faz a gente questionar quanto trabalho gasto foi usado para construir uma pequena vila que resiste formosa ao passar dos séculos. Olhar o movimento das marés é um deleite para o dia inteiro do alto das muralhas da cidade.

Alguém escreveu em meu Instagram: “Nunca vi um mar tão triste quanto na Bretanha”. E é exatamente isso. Mesmo com o sol de verão, tímido, o cinza domina a região. O vento é forte, as marés sobem até 12 metros e descem até 50 centímetros quatro vezes por dia. Na praia, professores ensinam garotos e garotas (de 12, 13 anos) a velejar. Placas por toda parte murada orientam: “Se você for pego pela maré alta, fique exatamente onde está. Não tente voltar porque corre o risco de se chocar contra as rochas”.

Acho que a palavra que melhor descreve a parte Intra Muros é idílica, e embora tenha me decepcionado com o festival (próximo texto), quero voltar e fuçar com calma a Bretanha fora do verão, visitando o Monte Saint-Michel e desbravando um pouco mais dessa região que tem língua própria, o Bretão, cerveja própria (trouxe três garrafas e falarei delas no blog em posts futuros) e cidra artesanal fresquíssima servida em bules de chá e tomada em xícaras. Além, claro, dos famosos crepes e galettes (o crepe salgado).

A viagem ideal por essa região une a região bretã com a região normanda e seus séculos de história (quem sabe uma esticada até a Cornualha britânica) que envolvem celtas (a Celtic League e formada por Escócia, Irlanda, Ilha de Man, o País de Gales e a Cornualha), a elogiada Côte de Granite Rose (que alguns dizem ser a parte mais bonita de toda a França) e, claro, a própria Normandia, palco do Dia D, em que diversas tropas Aliadas desembarcaram em solo francês a fim de combater a dominação da Alemanha Nazista.
Por hora, Saint Malo e sua extremamente conservada parte murada cumpre sua função de conquistar o olhar de forma irrepreensível, e causar o desejo de voltar. Que não demore.

agosto 21, 2014 No Comments
Amsterdam se tornando inesquecível

Amsterdam é uma cidade que me dá muita sorte no quesito shows. Naquele que, para mim, é um dos melhores templos da música em todo o mundo, o Paradiso (uma velha igreja que virou casa de shows), dei sorte em 2011 de um morador da cidade que desistiu do show sold out da PJ Harvey (tinha que cuidar da filha pequena) vender seu ingresso para mim. Em 2012 foi tenso comprar ingresso para o Afghan Whigs (e teve o episódio do computador esquecido), mas rolou e foi um grande show. Para 2014, a pedida era assistir ao Neutral Milk Hotel, e eles fizeram mágica musical no palco desta igreja. Mas do que começo…

Essa foi a terceira passagem minha por Amsterdam, e a mais prolongada: enquanto nas duas anteriores passei três dias na cidade, neste fiquei quatro (embora em uma das tardes/noites tenha esticado até a Antuérpia para ir ao melhor bar do mundo, papo pro próximo post) e a sensação é a mesma da primeira vez: “A maior cidade dos Países Baixos é cercada de pré-conceitos que na enorme maioria das vezes relega a segundo plano a beleza e a personalidade de uma cidade viva, empolgante e apaixonante. Amsterdam integra minha lista de locais mágicos junto a Praga, Santorini, Paris e Veneza”.

Ao contrário das vezes anteriores em que estive na cidade em que fiquei uma vez num hostel ao lado do Vondelpark e outra em outro hostel na rua da muvuca no centro, a Warmoesstraat, desta vez fiquei bastante distante da área da badalação, muito mais por economia, mas também pela comodidade de dormir sem ninguém gritanto loucaço na sua janela às três da manhã (acontece). A opção de ficar em um hotel no WTC em frente da estação Zuid se mostrou ótima, com tram e ônibus acessíveis para ir e voltar do centro e muito sossego nas noitadas (embora a falta de andar na cidade de madrugada tenha sido sentida).

Ainda assim acho que o ano em que mais aproveitei a cidade, e boa parte do mérito vai para o chapa Leonardo Dias, que me deu um punhado de dicas sábias. A primeira delas fiz logo assim que cheguei: visitar o Arendsnest, bar de cervejas holandesas na cidade, número 1 no Ratebeer (o dono tem outro bar na cidade, BeerTemple, só com cervejas não holandesas). Localizado numa das calçadas do canal Herengracht (a menos de 10 minutos da estação central de Amsterdam), o Arendsnest é bastante aconchegante e com uma excelente carta de cervejas na torneira e em garrafa.

Uma das casas preferíveis para se beber De Molens na cidade, abri o serviço com uma provocante De Molen Braggot Brett (garrafa), versão 2014 da casa de Bodegraven, maturada com pine honey e envelhecida em duas fases: uma em barris de (vinho) Bordeaux e outra de (bourbon) Wild Turkey com adição da levedura belga Brett. O aroma traz tudo isso ao nariz: vinho, Bourbon, mel, um delicado toque salgado mais baunilha. Na boca é deliciosamente azeda, com um pouco das sugestões acima e 9.5% de álcool. A segunda (e última) foi uma De Molen Mout & Mocca, stout com adição intensa de café e também 9.5% de álcool. Durmi feliz.

No quesito “cerveja” ainda bati ponto na Brouwerij’t Ij, cervejaria tradicional montada em um moinho, o Gooyer, que oferece uma bela seleção de cervejas próprias na torneira (trouxe um dos kits, com seis garrafas, para futuros textos no blog) mais petiscos a beira de um canal. Clima agradável, cerveja idem. Num dia de sol é possível passar horas aqui e perder o caminho de casa. Ainda passei (e dei uma pequena enlouquecida) na melhor loja de cervejas da cidade, De Bierkoning, ao lado da praça Dam, e como a mala já estava bem cheia, resisti bravamente e comprei apenas seis cervejas (três Mikkeller e três De Molen da linha deluxe).

Após vir da Escandinávia, encontrar uma cidade com pratos e cervejas que não custam uma semana de trabalho (exagero, mas nem tanto – risos) é reconfortante. O primeiro bom prato foi no Côte Quest, um café restaurante francês bastante simpático também ao lado da praça Dam (em que Lili pode voltar a comer pato e eu, o bom e velho steak de sempre). A segunda refeição caprichada na cidade foi um belo almoço no New King na região oriental, meio Chinatown, da cidade, e Lili partiu para o ataque com um enorme pato laqueado enquanto eu, que me recuperava da orgia cervejeira do Kulminator, fui de frango agridoce. Ótimos.

As filas absolutamente enormes e constantes me impediram de levar Lili à Casa de Anne Frank e ao sensacional Museu Van Gogh, mas o reaberto Rijksmuseum foi um enorme presente inesperado. Já havia visitado o museu nas duas vezes anteriores, em que ele estava a meia bomba devido a reforma (desde 2005) e, por isso, só exibia em algumas poucas salas 100 obras de sua vasta coleção. Reaberto (e remodelado) na integra em abril deste ano, o Rijksmuseum pula para a lista Top 5 pessoal de Museus do Mundo, impressão que começa pela instalação Calder, que circunda o museu com diversas obras sensacionais do artista norte-americano.

Dentro, a grandiosidade gótica e renascentista do prédio desenhado pelo arquiteto neerlandês Pierre Cuypers em 1885 impressiona, mas não se sobrepõe ao brilho do acervo magistral. Afinal, quantos lugares no mundo podem se dar ao luxo de expor quatro quadros de Vermeer (“A Leiteira”, “A Carta de Amor”, “Mulher de Azul a Ler uma Carta” e “A Rua Pequena”), um ao lado do outro (e concorridíssimos) além de uma seleção de Rembrant obrigatórios (“A Ronda Noturna”, “Os Síndicos”, “A Noiva Judia” e “Tobias, Ana e o Bode”)? Isso sem contar os conservadíssimos mobiliários (gabinetes, armários e casas de bonecas que fariam inveja em muita menina atual).

No quesito shows, poucas semanas antes uma mensagem de Luiz Gabriel Lopes, das bandas Graveola e TiãoDua (esta ao lado de Gustavito), avisava que ele iria se apresentar na cidade com o segundo projeto no Teatro Munganga, companhia fundada em 1987 em Amsterdam pelo mineiro Carlos Lagoeira, e que segue criando espetáculos, exposições e oficinas na cidade (saiba mais aqui). Com uma bela plateia mista entre brasileiros e neerlandeses, o TiãoDua fez uma apresentação caprichada, com um pé na psicodelia tropicalista e outros nos improvisos do jazz mostrando canções do primeiro disco e muitas novas. Um grande show numa grande noite de música brasileira que teve até mini-coxinhas (para matar saudades do Brasil) no intervalo.

Amsterdam também foi responsável pelo grande show da viagem, lado a lado na primeira posição com Neil Young e sua Crazy Horse, que causou uma tempestade sônica em Estocolmo três semanas antes. Confesso que após o show meio problemático do Neutral Milk Hotel no Øya Festival, tanto na equalização do som (voz e violão baixos em relação ao resto da banda) quanto na postura difícil de Jeff Mangum (que proibiu fotógrafos no fosso, e esses foram para a grade, o que não o deixou muito satisfeito), a expectativa para a apresentação no Paradiso havia diminuído, afinal, eles são aquele tipo de banda que a gente admira por serem difíceis, mas que quando nos vemos frente a frente, desejamos simplicidade.

Porém, tudo funcionou devidamente perfeito no Paradiso. Avisos por toda casa informavam que o artista havia proibido fotos e vídeos (inclusive de celulares), e durante uma hora e meia nenhum celular foi levantado na igreja (ao menos não vi nenhum, e não tenho fotos porque também não levantei o meu). A equalização foi espetacularmente perfeita. Posicionado na beira do palco, aos pés de Mangum, era possível ouvir metais, serrote e teclados (com a visão encoberta pelas caixas de retorno) de forma cristalina, perfeitamente integrados ao violão e a voz do mestre de cerimônias, que, agradecido, colocava a mão no peito a toda hora.

A festa começou com uma versão inesquecível, alta e cristalina, das três partes de “The King of Carrot Flowers”, com Jeff começando sozinho, voz e violão, seguido por Julian Koster, que começa no acordeão e depois parte para o banjo, momento em que Scott Spillane (cada vez mais papai-noel) entra com a flauta e, depois, o baterista Jeremy Barnes transforma o que era folk em punk. Apenas uma faixa do clássico “In the Aeroplane over the Sea” (1998) ficará de fora da noite épica (”Communist Daughter”) enquanto “On Avery Island” (1996) marca presença com quatro canções e os dois EPs, juntos, somam cinco canções no set de um daqueles shows que poderiam terminar e começar de novo e terminar e começar de novo eternamente.

Se Amsterdam já tinha se tornado especial nas lembranças de viagem pela apresentação matadora de PJ Harvey em 2011 (em que, provavelmente único em toda aquela turnê, ela voltou duas vezes para o bis e se desculpou: “Tocamos tudo que havíamos ensaiado”), este show do Neutral Milk Hotel é daquelas noites que irão voltar vez em quando e me transportar para o Paradiso, para a frente do palco, para uma noite inesquecível. Obrigado Amsterdam. Obrigado Paradiso. Obrigado Neutral Milk Hotel.

As quatro primeiras fotos e a última são de Liliane Callegari (veja mais fotos da viagem aqui); a foto do show do TiãoDuá é de Ron Beenen (veja galeria de fotos do show aqui); as demais fotos são de Marcelo Costa
agosto 19, 2014 No Comments
Um novo olhar sobre Oslo

Na minha primeira passagem por Oslo, ano passado, a cidade não me seduziu. Dessa vez, porém, foi diferente, e um dos diferenciais foi ter visitado lugares obrigatórios que passaram batido na primeira viagem, e que tornam a cidade decididamente mais atraente. Claro, Oslo continua sendo uma das três cidades mais caras do mundo (Estocolmo está no mesmo nível e, dizem os amigos, Copenhague segue o cortejo), o que nos faz sentir saudade de São Paulo (e isso é assustador), mas é uma cidade bela e absolutamente admirável.

O Øya Festival foi uma surpresa agradabilíssima, um festival de line-up cuidadoso e produção impecável. Consegui voltar ao Mathallen, mercado charmoso que lembra bastante a paulistana Feirinha Gastronômica, mas com um prédio próprio numa das áreas revitalizadas da cidade, e fiz uma séria busca pelas melhores cervejas norueguesas nos principais Vinmonopolet (Monopólio do Vinho, um órgão semelhante aos Systembolagets suecos) de Oslo – sim, elas existem (algumas Nøgne Ø, HaandBryggeriet, Lervig e Ægir seguem na mala).

A primeira das “descobertas” deste ano foi visitar o bairro Aker Brygge, bairro luxuoso surgido em 1986 no local onde até 1982 funcionou o estaleiro da cidade. Reformado em quatro etapas (finalizada em 1998), Aker Brygge tornou-se uma interessante área de prédios futuristas (e apartamentos de cair o queixo). Um dos pontos de destaque do local é o Astrup Fearnley Museum, obra espetacular do arquiteto italiano Renzo Piano inaugurada em 2012, perfeitamente integrada ao ambiente (com direito a uma prainha artificial).

No ano passado, um dos motivos de visitar Oslo era assistir ao Manic Street Preachers no festival Norweggian Wood, que acontece na área das piscinas públicas do Parque Frogner. Só isso já era motivo para ter visitado a instalação Vigeland, mas deixamos a oportunidade passar e, após a visita deste ano, não pense em outra atração tão obrigatória de Oslo quanto ele (no mesmo nível estão escalar o teto da Ópera e visitar tanto o Museu Nacional quanto o Museu Munch, para se encantar com a melancolia depressiva deste excelente pintor norueguês).

A Instalação Vigeland se intitula como o maior parque de esculturas do mundo feitas por um único artista, no caso, Gustav Vigeland, que trabalhou no projeto entre 1920 e 1943, quando morreu – Vigeland também assina a concepção e o layout arquitetônico do parque. Ou seja, o sonho de qualquer artista: uma área de 320 mil metros quadrados para pirar a cabeça. Gustav Vigeland preparou 212 obras em bronze, granito e ferro forjado – a maioria, esculturas, mas vale prestar nos detalhes dos portões de cada ala, trabalhados em detalhes e personais.

A obra abrange uma área de 40 hectares dentro do Parque Frogner começando com uma passarela que remete a Charles Bridge, de Praga, e terminando no impressionante Monolito, que reúne 36 obras em granito além de um imenso totem. Nesses dias de verão, as crianças interagem com as obras neste que é um dos locais mais visitados da Noruega – além de ser um ótimo local para piqueniques. Há ônibus e metrô nas redondezas, embora tenhamos feito o trajeto do centro até o parque a pé, apreciando os detalhes do bairro.

Por fim, Edvard Munch. Ano passado dei sorte de estar na cidade nos festejos dos 150 anos do pintor. A mostra era dividida entre a National Gallery e o Museu Munch, que não conheci na oportunidade. Este retorno permitiu rever quadros emblemáticos como “Morning“, “The Day After” (meu preferido), “The Kiss” e “White Night“. No Museu Munch encontrei uma segunda versão de “O Grito”, em perfeitas condições (a versão da National Gallery sofreu danos após um roubo) e admirei a “Madonna” (só não comprei a camiseta porque não tinha M, só XL). Outro que eu não havia ano passado e me surpreendeu foi o macabro “Dance of Life” (abaixo).

O saldo final desta segunda passagem por Oslo é uma conta bancária no vermelho, mas também uma cidade apaixonante que se aconchega carinhosamente na memória. Não nego uma possível terceira vinda para estes lados, principalmente para esticar a viagem para Bergen e conhecer os famosos fiordes da região. Ainda que Estocolmo pule a frente como cidade escandinava favorita (por sua beleza natural), Oslo se destaca por dezenas de atrações que merecem uma visita atenta (difíceis de serem vistas em apenas uma única viagem). Até a próxima.

agosto 14, 2014 No Comments
Festivais: Øya, em Oslo (Dia 4)

Texto: Marcelo Costa
Fotos: Liliane Callegari (veja galeria)
No último dia do Øya Festival 2014, um sábado, Oslo amanheceu nublada e com jeitão de chuva. Deve ter sido por isso e, também, pela escalação mais fraca, que o quarto dia do festival tenha sido o que recebeu menos público. Na noite de abertura, Queens of The Stone Age levou uma ótima plateia ao Tøyen Park; Outkast foi responsável na noite seguinte por garantir o maior público ao festival neste ano; a terceira, com dois eventos locais (o show de 30 anos de Mayhem mais o encontro entre Røyksopp e Robyn), não decepcionou, enquanto a noite de encerramento, com Brian Ferry e Todd Terje, ficou aquém da media do festival.

Focado nas mulheres (ao menos no começo), o sábado foi aberto com um bom show de Nadine Shah mostrando as canções de “Love Your Dum and Mad” (2013), que lhe valeram comparações (inevitáveis) com PJ Harvey. No mesmo palco, logo depois, a jovem Aurora Aksnes mostrou que pode existir muita melancolia na vida de uma garota norueguesa de 17 anos. Aposta do Øya Festival em 2014, a cantora de Bergen, que ainda não tem nem disco lançado, foi uma surpresa agradável do palco Vindfruen, com gestos que lembram Lordes e uma inquietude no palco que lembra a Tori Amos dos primeiros anos. Vale acompanha-la.

Já que o assunto é melancolia, a delicadeza cristalina e deliciosamente desajeitada de Sharon Van Etten combinou perfeitamente com a tarde nublada de Oslo. De cabelos curtos e toda vestida de preto, Sharon abriu o show com três (belas) canções de seu recém-lançado quarto disco, “Are We There” – “Afraid of Nothing”, “Taking Chances” e “Tarifa” –, mostrou velhas canções (“Essa é uma canção folk mais antiga”, disse ao apresentar “Save Yourself”, de seu segundo álbum, “epic”, de 2010), e, antes de tocar “You Love is Killing Me”, avisou: “Essa é uma canção de amor: não chorem”. Para fechar, a bela “Every Time The Sun Comes Up”.

No palco Hagen, vestindo uma camiseta com uma estampa de Elton John, Mac DeMarco se divertia muito numa jam session de uns 15 minutos na passagem de som, com apenas o retorno de palco levando uma galera para a grade. Quando foi autorizado a começar a apresentação, avisou: “Agora vamos tocar de verdade”. E seguiu-se um indie rock desafinado e divertido. Cada canção vinha com uma historinha introdutória: “Essa eu fiz para um amigo”… e assim se seguiram “Salad Days”, “Blue Boy”, “Cooking Up Something Good” e “Chamber of Reflection” culminando num stage dive (proibido no festival). Ponto para o canadense.

Na tenda Sirkus, um redivivo Slowdive fez os apaixonados por guitarras altas flutuarem no ar. “Slowdive”, a música, abriu a noite, com o vocal de Rachel Goswell (de vestido preto) sendo encoberto pelos riffs de Neil Halstead (bancando o modelo fazendeiro) e Christian Savill. A lisergia instrumental seguiu-se com as explosões climáticas de “Avalyn”, “Catch the Breeze” e “Alison”. A cena em “Machine Gun” foi idílica: o pau comendo entre bateria, baixo e as duas guitarras, e Rachel no centro do palco tocando pandeiro inabalável, curtindo o momento, como se tivesse esperado a vida inteira por toda aquela microfonia. Rolou até declaração de amor no gargarejo. Um dos shows mais aplaudidos do festival.

No palco principal (e já debaixo de chuva), Bryan Ferry posava de membro de sua própria banda, tocando teclados na lateral esquerda do palco enquanto a baterista Cherisse Osei dava um show. O repertório, caprichadíssimo, trouxe números do Roxy Music (da abertura com Re-“Make/Re-Model” passando por “Stronger Through the Years”, “Avalon” e “Virginia Plain”), clássicos da carreira solo (o cavalo de batalha “Slave To Love” foi a terceira da noite) e um cover de John Lennon, “Jealous Guy”, encerrando de forma especial um grande show, prejudicado por São Pedro, mas valorizado por uma banda excelente.

Ainda tinha Todd Terje encerrando a noite no Tøyen Park e Boogarins numa casa, mas a equação “quatro dias de festival” + “chuva” + “arrumar quatro malas” + “acordar às 7h da manhã para voar para Amsterdam” cobrou seu preço. O saldo final dos quatro dias de shows, no entanto, foi extremamente positivo. Øya Festival parece ter encontrado um formato e trabalha dentro dele da melhor maneira possível. A organização cuidadosa do line-up, com shows pontuais começando exatamente quando o do palco ao lado encerra, é um dos pontos altos de um festival que coloca a música norueguesa lado a lado com o melhor que o mundo tem a oferecer.

A mudança acertada para o Tøyen Park, devido à reforma da estação de metrô que atende ao local anterior do festival, mostra a preocupação da produção com a viabilidade de chegada dos frequentadores, e merece aplausos. Ainda que seja assustador para bolsos latino-americanos no quesito comida (no qual o primeiro dia do Lollapalooza Brasil saiu ganhando em termos de qualidade) e, principalmente, bebida (um copo de cerveja = R$ 30), o Øya Festival é um festival irrepreensível que oferece tudo aquilo que um fã de boa música necessita para aproveitar ao máximo a experiência de quatro dias de música em quase 100 shows. Que o modelo perdure e inspire festivais ao redor do mundo: esses sabem fazer um festival de música de qualidade.
agosto 10, 2014 No Comments
Festivais: Øya, em Oslo (Dia 3)

Texto: Marcelo Costa
Fotos: Liliane Callegari (veja galeria)
Terceiro dia do Øya Festival e a sensação em meio a maratona de shows é de que, a cada dia que passa, o sol está mais próximo da cidade – e consequentemente o festival. Se o público da quinta-feira (cujo headliner era Outkast) havia superado o do primeiro dia (com QOTSA à frente), nesta sexta-feira o ambiente pareceu lotar apenas no começo da noite, quando o sol deu um leve descanso. Ele só foi embora ali pelas 21h, e entre 16h e 17h estava em seu auge, castigando a pele branca da lourada e tornando as áreas de sombra bastante disputadas.
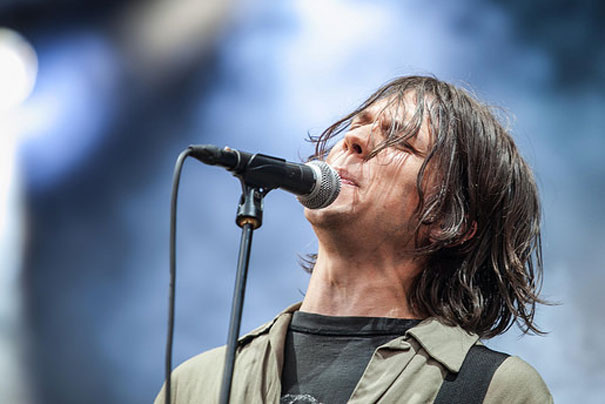
Então não foi só por ter substituído os britânicos do The Horrors (que cancelaram a vinda no meio da semana) na última hora que o guitarrista sueco Robert Hurula (acompanhado de um quarteto barulhento) encontrou menos de 100 ovelhas pingadas na plateia do palco principal quando começou seu show, ainda debaixo de um sol digno do Rio no verão. Mesmo assim, o rapaz fez uma apresentação pop noise na medida, uma cacetada seguida de outra, e a plateia foi se enchendo de curiosos conforme o bom show transcorria. Uma boa surpresa do dia.

No palco ao lado, fãs já aguardavam pelo Neutral Milk Hotel meia hora antes do show começar (algo raro por estes lados), e quando Jeff Mangum entrou sozinho em cena e atacou de “Two-Headed Boy”, todos se beliscaram. “The Fool” surgiu em seguida, já com a banda toda no palco, e a artilharia de punk folk descompromissado com jeitão de fanfarra do interior tocou boa parte do clássico “In the Aeroplane over the Sea” (1998) com metais, serrote e bateria encobrindo o violão e a voz de Mangum em vários momentos até mais da metade do show, mas nem isso tirou a beleza de um dos shows mais importantes do ano.

Defendendo a escalação (death) metal no dia mais importante para o estilo no festival, os franceses do Gojira empilharam uma dezena de amplis Marshalls no fundo do palco e sentaram o sarrafo sonoro na plateia com a galera do gargarejo jogando cabelos ao alto no pôr-do-sol. Com uma condução mais seca e compassada do que acelerada, o baterista Mario Duplantier (destaque da banda) fazia com que seus dois bumbos despejassem socos no peito do público, um misto de fãs fieis do estilo, curiosos e muitas crianças (algumas, inclusive, maquiadas).

Dois momentos especiais aconteceriam na mesma hora na terceira noite do Øya Festival: no palco principal, a cantora sueca Robyn iria se juntar ao duo norueguês Røyksopp, e a turma da música eletrônica escandinava estava em polvorosa. Robyn entrou mostrando carisma de palco e ginga (bastou uma rebolada pra galera enlouquecer). Torbjørn Brundtland e Svein Berge vieram na sequencia e foram ovacionados pela plateia. O encontro dos dois artistas, no entanto, iria acontecer no terceiro bloco do show, que coincidiria com a entrada em cena do Mayhem na tenda Sirkus comemorando 30 anos de Black Metal. Partiu inferno.

Naturais de Oslo e com uma história complicada marcada por dezenas polêmicas (um dos vocalistas se matou, o baixista fotografou o cadáver e colocou na capa de um disco; outro baixista esfaqueou 23 vezes um guitarrista – e foi condenado a 21 anos de prisão pelo assassinato; isso tudo sem contar a participação de integrantes no Inner Circle, grupo famoso por queimar mais de 100 igrejas no país), não deixa de ser surpreendente o Mayhem estar completando 30 anos na ativa, mesmo que com apenas dois integrantes da formação original.

Os locais se dividem quanto à banda. No mesmo momento em que mais de 15 mil pessoas dançavam ao som de Røyksopp e Robyn, cerca de 2 mil “admiravam” o palco do Mayhem, que mais parecia um açougue (com cabeças de porco e costelas de boi em meio a cruzes invertidas) iluminado por velas. E nem todos os presentes eram fãs: “Eles são uns idiotas fodidos”, comentou uma norueguesa. “O som é uma piada”, completou. Pode ser uma piada, mas uma piada beeem pesada, até mesmo ela (que “prestigiou” o show) precisa reconhecer.

Com o vocalista húngaro Attila Csihar à frente (após uma passagem pela banda no meio dos anos 90, Attila voltou ao posto em 2004, e permanece desde então) cantando abraçado a uma cabeça de caveira, o quarteto instrumental começou o massacre sonoro com a condução rápida do baterista Hellhammer passando como um trator sobre os presentes – muitos deles, crianças acompanhadas dos pais – mostrando que, 30 anos depois, o Mayhem segue firme como uma banda poderosa, barulhenta e demoníaca ao vivo. Amém.

agosto 8, 2014 No Comments
Festivais: Øya, em Oslo (Dia 2)

Texto: Marcelo Costa
Fotos: Liliane Callegari (veja galeria)
O segundo dia do Øya Festival começou bem cedo: às 10h, a produção do festival colocou toda a imprensa estrangeira em um barco e os enviou para uma casa comunitária próxima de um pequeno fiorde. Ali, em meio a churrasco (de salsicha), cerveja e frutas, o pessoal do Øya promoveu jogos e debates interessantes além de liberar a galera para pular na água. A comitiva francesa não decepcionou, os ingleses se divertiram (e divertiram a galera), os japoneses ficaram olhando, os suecos não pensaram duas vezes, os norte-americanos fizeram que não era com eles e apenas metade da equipe brasileira (a fotógrafa) encarou a água fria.

Enquanto isso, dentro da casa, uma mesa formada por quatro franceses (dois bookings, um representante de selo e uma representante de major) e mediada por uma norueguesa discutia os rumos futuros da nova música escandinava. O ponto de partida era o sucesso da música local na França, um país cuja lei determina que 40% do que toca em rádio tem que ser cantado na língua francesa. Muito se discutiu, e algumas coisas valem para o mercado brasileiro: o pessoal ressaltou a importância das majors francesas investirem em novos talentos e, principalmente, das bandas encontrarem “sua família”, o seu verdadeiro público.

Já na área do festival, Bill Callahan (que começava aqui sua nova turnê europeia) surpreendia a todos ao abrir seu show com “The Wheel”, faixa de sua ótima estreia solo, “Woke on a Whaleheart”, de 2007, e emendar, para felicidade geral, com “Let Me See the Colts”, do último álbum do Smog, “A River Ain’t Too Much to Love” (2004). “Spring”, do ótimo “Dream River” (2013) apareceu em versão mais encorpada (Callahan surgiu acompanhado de uma segunda guitarra, bateria e baixo) e o set list caprichado ainda trouxe “Javelin Unlanding”, “Seagull”, “Winter Road” e “One Fine Morning” num belo show que lotou a grande tenda Sirkus.

No palco principal, uma multidão aguardava Janelle Monáe, e quando um MC de sua banda a trouxe amarrada para o palco (todo decorado nas cores branco e preto), a galera foi ao delírio. A menina é um estouro em cena: ela dança (muito), canta (bastante) e ainda faz alguns raps. Com o público nas mãos, distribui hits colados um nos outros, mantendo a adrenalina do público (muito maior neste horário do que no dia anterior) em alta. Uma pena que a guitarra estivesse inaudível (o baixo, por sua vez, parecia duas vezes mais alto do que o normal), mas ainda assim Janelle deixou o festival aplaudidíssima.

Um giro pelo festival permitiu descobrir o local em que as boas cervejas são vendidas: se o copo da Ringnes, a cerveja oficial do Øya (uma pilsen tradicional meio sem graça, mas que cai muito bem neste dia de sol de verão escandinavo), custa cerca de R$ 29, uma long neck de Brooklyn, Leffe ou Guinness sai por R$ 35. Melhor se hidratar com água, né mesmo. No quesito comida, hambúrgueres, fish & chips, tortilhas mexicanas, jambalaya e outros quitutes eram vendidos entre R$30 e R$ 40. Enquanto isso, o Little Dragon mostrava seu som genérico no palco Vindfruen e o Thulsa Doom fazia muito barulho por nada no palco Hagen.

Grande atração do dia, e um dos principais nomes do line-up 2014 do Øya Festival (e uma das principais turnês do ano), o Outkast causou uma catarse coletiva no Tøyen Park, com a lourada escandinava (de crianças até senhoras) cantando e dançando hip hop como se tivesse nascido no Bronx. Ninguém reclamou dos 25 minutos de atraso. Assim que o DJ (o palco ainda trazia uma baixista e duas backings) soltou a base de “B.O.B.”, Big Boi (de bermuda e camisa colorida) e Andre 3000 (de peruca cinza, todo de preto com uma camiseta onde se lia: “Loners Get Lonely Too”) adentraram o recinto e tomaram conta da festa.

Com a maior parte das canções na ponta da língua, o público escandinavo não decepcionou acompanhando no gogo “Gasoline Dreams” quase inteira e arremessando copos de cerveja (de R$ 30 – para nós, brasileiros) para o alto. O clima seguiu quente música a música (o set list é exatamente o mesmo em toda a turnê) culminando no já tradicional momento de “Hey Ya”, em que dezenas de pessoas retiradas da plateia sobem ao palco para dançar com a dupla. O alto astral da apresentação fez a arena do Øya Festival viver um momento especial, um daqueles shows com pinta de inesquecível para o público local. Bonito de ver.
O festival segue nesta sexta-feira com mais de 20 shows. Bora!

agosto 7, 2014 No Comments
Festivais: Øya, em Oslo (Dia 1)

Texto: Marcelo Costa
Fotos: Liliane Callegari (veja galeria)
Quem vê a grandiosidade atual do Øya Festival, em Oslo, não imagina que o maior festival da Noruega começou em 1999 com 1200 espectadores. No ano seguinte, o público pulou para 4 mil pessoas, em 2003 já somava 24 mil espectadores , em 2010, alcançava a marca de 85 mil pessoas no fim de semana (com os quatro dias alternando entre 20 e 25 mil pessoas, dependendo da atração), que vem se mantendo desde então. Esse público se divide em uma grande área que recebe (este ano) 96 atrações divididas em cinco palcos (um deles, uma tenda para apresentações intimistas, debates e discussões sobre os rumos da música norueguesa).

As atividades do festival não se restringem ao primeiro parágrafo, e muito menos ao ambiente do Tøyen Park, no lado leste de Oslo: em todos os dias do festival, 23 casas noturnas da cidade recebem bandas norueguesas em seus palcos. A programação para esta quarta-feira, por exemplo, vai do som minimal synthpop do Blå, passando pelo folk de Janne Sea, pelo alternativo de Fay Wildhagen e pelo pop do Pow Pow até chegar ao hardcore do Haraball, o post metal do Kollwitz, o doom metal do Tombstones, o thrash do Condor e o kraut do Astro Sonic. Definitivamente, tem shows para todos os gostos (e, principalmente, bolsos).

Quem não é cidadão escandinavo (nascido ou imigrante) pode levar um tremendo susto ao conferir os preços da região, e olha que já existiram festivais brasileiros que conseguiram superar os R$ 900 do passe para os quatro dias do Øya Festival. A coisa fica feia no quesito bebida alcoólica, taxadíssima na região: um copo de chope na área do evento custa nada menos que R$ 30 – um hambúrguer sai por R$ 35, um baldão de pipoca por R$ 20, um prato de nachos por R$ 35 e um fish & chips, R$ 40. As lojas de discos vendem vinis novos das atrações do festival com preços entre R$ 60 e R$ 80 e as camisetas oficiais custam, em média, R$ 80.

O público é o mais variado possível, e num primeiro momento surpreende a quantidade de pais de família com filhos pequenos (de 1, 2 e 3 anos – todos com fones de proteção de ouvido – até moleques) presentes no recinto. O Tøyen Park fica exatamente ao lado do Museu Munch (grande pintor norueguês, responsável pelo quadro “O Grito”, de 1893, entre outros) e parece ter caído como uma luva para o festival, que mudou-se para cá neste ano (a produção precisou mudar o endereço do festival após 13 edições no Medieval Park porque a área do metrô que o atendia está em reconstrução, e isso prejudicaria o deslocamento do público).

As atividades do Scream & Yell no dia foram abertas pelo combo norueguês Atlanter, que subiu ao palco acompanhado das compositoras Hanne Kolstø e Anne Lise Frøkedal, somando três guitarras no palco (e oito integrantes) e dando vida a um projeto que estreou ao vivo em fevereiro deste ano – e já ganhou um EP, “Temple”, lançado em junho. Ao vivo, a junção de três nomes badalados da cena musical local soa mezzo kraut rock e mezzo progressivo (Yes do começo) com vocais melodiosos (meio The Byrds), uma aparente salada sonora que, por incrível que pareça, não soa indigesta. Nada de novo, mas, ainda assim, um bom show.

Enquanto isso, a tenda Biblioteket, um projeto resultante da parceria da Biblioteca Pública da cidade com duas casas de shows, recebia uma palestra de Benedikt e Kristoffer Momrak, dois ex-integrantes da banda Tusmørke. Pelo que deu para (não) entender, o bate papo – que divertiu bastante a plateia e tinha como fundo o rock norte-americano dos anos 50 – era sobre ervas mágicas do Jardim Botânico (ou alguma coisa muito doida nesse sentido). Do lado de fora, uma barraca vendia sorvete e sanduíche de carne de alce desfiada. O dono, bastante solicito, não pestanejava em agradar o cliente: “Quer um copo de leite?”. Já que é de graça…

Quer ver o Rival Sons, grupo de classic rock dos anos 70 nascido em 2009 em Long Beach? Venha para a Escandinávia no verão. Ano passado eles se apresentaram no Norweggian Wood, aqui mesmo em Oslo, e dessa vez foram escalados para o primeiro dia do Øya. Noruegueses caíram na farsa, e consta que brasileiros também, mas a banda é datada, bocejante e mais apelativa no abuso dos clichês que qualquer Pearl Jam cover (ou melhor, Stone Temple Pilots cover) que já tenha pisado no palco do Café Piu Piu, em São Paulo. Jay Buchanan, o vocalista, é 10 vezes mais afetado que Axl Rose… sem um centésimo do talento. Tristeza.

No palco Vindfruen, exatamente ao lado do palco principal, o músico norte-americano Jonathan Wilson tentava provar que todo o blá blá blá sobre seu álbum “Fanfarre” (2013) era digno, e não fruto de sua carteira de serviços prestados no mundo pop (de produtor de álbuns de Father John Misty e Dawes a participações em álbuns de Elvis Costello, Autumn Defense e Erykah Badu, entre muitos outros), e o que pode se dizer é que ele sobrevive bem no palco, mas ainda precisa comer bastante sucrilhos para ser comparado a gente como Tom Petty, Graham Nash e Jackson Browne. Deixem o menino (de 39 anos) seguir em frente.

Voltando no tempo, ali pelos idos de 2008, quando excursionava pela Europa divulgando o disco “Boxer” (2007), um excelente álbum, ainda que uns dois degraus abaixo das obras primas “Alligator” (2005) e “Sad Songs for Dirty Lovers” (2003), o The National era então uma das melhores bandas no mundo sobre um palco. O epiteto não vale para os dias de hoje apenas porque o grupo de Matt Berninger colocou paletó e gravata nos arranjos a partir de “High Violet” (2010), e as canções outrora únicas pareceram, desde então, seguir uma fórmula óbvia de “silêncio + explosão” que foi se desgastando com o tempo e perdendo brilho.

Dói escrever isso, principalmente depois da aula de bom humor do obrigatório documentário “Mistaken For Strangers” (2013), mas seis músicas de “Trouble Will Find Me” (2013) e quatro de “High Violet” num set list de 14 canções soam um erro descomunal (ainda que das quatro de “High Violet”, duas sejam as pérolas “Bloodbuzz Ohio” e “Terrible Love”) num show que ainda depende da atuação arrepiante de Matt para ser salvo. É ele quem pula no meio do público e canta “Mr. November” carregando um garoto de uns 13 anos nas costas a canção inteira, e arrasa no vozeirão entoando “Fake Empire”. Por alguns minutos, parece 2008. Saudade.

Um dos shows mais esperados do dia (para os noruegueses) era o de Thomas Dybdahl, nome de bastante sucesso da música do país neste novo século. Já comparado com Nick Cave e Jeff Buckley, ao menos por este show pode-se dizer que as comparações são equivocadas e, principalmente, exageradas. Com boa vontade dá para pintar o retrato de um James Taylor nórdico breguinha da fazenda, e olhe lá. O público, porém, cantou boa parte das canções de forma apaixonada e aprovou o show, que teve lá alguns momentos interessantes embalados numa proposta feita e refeita um bom par de zilhões de vezes.

Fechando o palco principal, a segunda passagem da turnê “…Like Clockwork” por Oslo (a primeira foi em dezembro de 2013) começou a 300 por hora com Michael Shuman disparando no baixo a linha inconfundível de “Feel Good Hit of the Summer”. No tradicional break do meio da canção, em que a melodia vai sumindo, Josh Homme começou a cantar “Never Let Me Down Again”, do Depeche Mode, até puxar a fila de narcóticos novamente: “Nicotine, Valium, Vicodin, marijuana, ecstasy and alcohol: Co-co-co-co-co-cocaine”. Como num passe de mágica, a ligação com “The Lost Art of Keeping a Secret”, do álbum “Rated R” (2000), foi mantida. Festa.

Antes de começar a terceira, Josh avisou: “Essa é uma música bem velha”. E “Avon”, do primeiro disco do Queens (1998), surgiu no set list para delírio dos fãs mais antigos. O show, dai em diante, foi absolutamente impecável. “My God Is the Sun”, que estreou no Lolla Brasil de 2013, está ainda mais densa. “I Sat by the Ocean” perdeu um pouco de corpo e ganhou mais sujeira. Com Josh ao piano, “…Like Clockwork” foi um dos momentos de destaque na noite. O empolgante coro da galera antes de começar “Burn the Witch” pegou Josh de surpresa, e o vocalista não resistiu e brindou ao público… com uísque (na terra do álcool 4.7%).

Por duas vezes, Homme pediu: “Acendam as luzes: quero olhar para vocês! Que noite linda, hein”. O caminhão de hinos não ficou de fora: “Monsters in the Parasol”, “Little Sister”, “Make It Wit Chu”, “Sick, Sick, Sick”, “Go With the Flow” e “No One Knows” fizeram a festa dos 20 mil presentes, que puderam ver como Jon Theodore fez o som da banda crescer e ganhar inflexões (só ele consegue fazer a bateria de “No One Knows”, um momento mágico de Dave Grohl, soar no palco como no disco). O respeito que o músico conseguiu dentro da banda é tamanho que o show termina com uma versão cacetada de “A Song for the Dead”, com direito a solo de bateria de Theodore, após uma hora e meia de porrada. Impressionante. E perfeito. Que show.
O Øya Festival continua nesta quinta com mais 23 shows. Nos vemos amanhã.

agosto 6, 2014 No Comments



