Category — Cinema
Mostra de SP: “Ninho Vazio”

“Ninho Vazio”, de Daniel Burman – Cotação: 2/5
Em seu sexto filme, o argentino Daniel Burman (de “Esperando o Messias” e “O Abraço Partido”) aproxima-se tematicamente do cinema do canadense Denys Arcand. Há muitas similaridades entre “Ninho Vazio”, do argentino, com “A Época da Inocência”, do canadense, sendo que os principais se apóiam no desagradável personagem principal dos dois filmes e na junção de ficção e sonho.
O texto de Burman é muita vezes corrosivo e diverte em várias passagens, mas o vai e vem da história não convence, embora o tema seja caro a todos nós. Leonardo, o personagem principal, é um dramaturgo famoso que percebe que seus três filhos deixando a casa para estudar no exterior, o ninho está ficando vazio e ele está se distanciando de sua mulher, a bela Martha.
Ao mesmo tempo em que percebe essas pequenas coisas que sinalizam sua crise de meia-idade, Leonardo passa um bom tempo no mundo ficcional dos sonhos apaixonado por um jovem dentista e filosofando coisas da vida com o marido de uma amiga de sua mulher. São essas passagens que rendem os melhores momentos da trama (com o tal amigo afiado no discurso) e também os mais constrangedores (os momentos de dança).
O mal-humor do personagem principal o distancia do público (o espectador chega, em certo momento, a esperar a traição da mulher como uma resposta justificável para as atitudes distantes do marido), embora sua natureza serena pareça pedir colo. O cinema humanista de Daniel Burman brinda o espectador com belos achados de texto e imagens, mas não se fecha em um grande filme. Nesse ponto, Arcand, se saiu melhor.
Leia também:
– “A Era da Inocência”, de Denys Arcand, por Marcelo Costa (aqui)
– “O Abraço Partido”, de Daniel Burman, por Marcelo Costa (aqui)
outubro 19, 2008 No Comments
Cinema: “Ensaio Sobre a Cegueira”
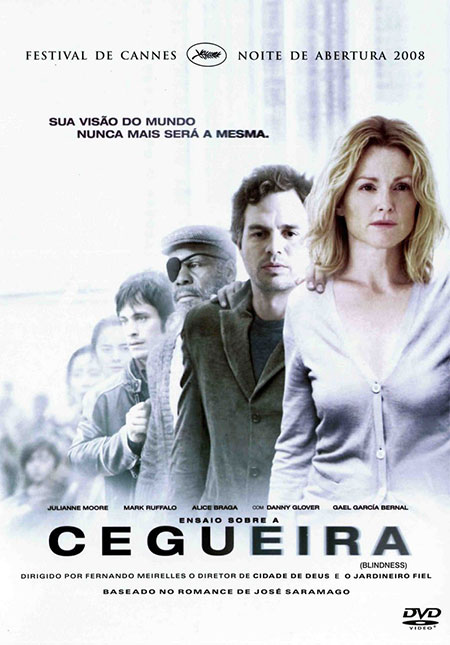
“Ensaio Sobre a Cegueira”, de Fernando Meirelles – Cotação 3/5
Antes de qualquer coisa acho importante dizer: eu não li o livro (ainda). Amigos e muitos críticos reforçam a fidelidade do roteiro ao livro, mas quando digo que não li estou me despindo de uma pretensa comparação entre literatura e cinema, e também de uma expectativa formada no âmago (muitas vezes inconscientemente) que procure respostas emocionais que transformem a ansiedade em algo tocável e reconhecível.
O desconhecimento da história torna o espectador refém do roteiro, inevitavelmente, afinal ele não sabe o que vem pela frente e por experiência, destreza ou chute forma pequenos núcleos opinativos em sua mente que caminham para lá e para cá conforme a fita vai desenrolando na tela. É um jogo interessante entre diretor e espectador que, quando bem executado, gera filmes inesquecíveis.
“Ensaio sobre a Cegueira” nasce valorizado como história. Baseado na obra homônima do escritor português José Saramago, agraciado com o Nobel de Literatura em 1998, a história é devastadora. Aborda uma epidemia de cegueira em uma cidade qualquer que começa infectando um homem e, depois, toma toda a população e a joga em uma espiral de desencontros cujos valores são esquecidos.
O tema é caro a vários escritores – “A Peste”, de Albert Camus (cujo inimigo também é uma epidemia), “O Macaco e a Essência”, de Aldous Huxley (a fumaça negra causada pela bomba nuclear em uma terceira guerra mundial devasta a civilização) e mesmo “Blecaute”, de Marcelo Rubens Paiva (com três amigos criando em uma São Paulo devastada) – cujo pessimismo em relação à humanidade fica evidente.
Para esta adaptação, Fernando Meirelles cercou-se de alguns dos seus colaboradores (César Charlone na fotografia, Daniel Rezende na edição) e de um time estrelado de atores do qual fazem parte Julianne Moore, Mark Ruffalo, Alice Braga, Don McKellar, Danny Glover e Gael Garcia Bernal. O filme foi rodado em Toronto, no Canadá, em São Paulo e Osasco no Brasil e Montevidéu no Uruguai, e apesar de todo o esforço o resultado soa… incompleto, distante.
Se o roteiro de “Ensaio sobre a Cegueira” é fiel ao livro, e o livro é um clássico da literatura moderna, qual o motivo do filme não funcionar? Talvez seja a opção da direção em torná-lo distante de seu público. A estilização fotográfica é belíssima, mas inibe o espectador que acaba por fim não se envolvendo com a história, por mais que a história seja envolvente.
Colocado na posição de observador, o espectador enfrenta um segundo problema, talvez o maior do filme: a sujeira visual exibida nos corredores, nos destroços de ruas famosas de São Paulo é muito maior do que a sujeira moral proposta pelo roteiro. Fernando Meirelles parece ter amaciado o formato visual do discurso para não chocar o público, e a sujeira moral é um dos grandes atrativos de “Ensaio sobre a Cegueira”.
Meirelles já havia feito o mesmo em “Cidade de Deus” alcançando um resultado excepcional ao contar a história da favela carioca com um certo tom de humor, câmera e edição frenéticas e muita ação, opções que amaciavam a realidade dura de um território dominado pelo tráfico de drogas, vivendo chacinas recorrentes e com “governantes” locais que desafiavam o Estado.
Em “Ensaio sobre a Cegueira”, porém, a opção parece não funcionar. As cenas estão ali, mas não causam impacto. A derrocada da sociedade na visão de José Saramago é completamente pessimista, e não dá para o público ficar alheio a esta visão. Porém, tudo se apóia na belíssima metáfora da cena final, lírica, dos cegos que vêem, pois o espectador deixa a sala achando que a humanidade tem solução, mesmo com toda barbárie exibida minutos antes.
Entre a sutileza do discurso cinematográfico e a metáfora deslumbrante de seu final arrebatador (e talvez rápido demais – o que pode escapar ao público), “Ensaio sobre a Cegueira” está longe de ser um filme ruim assim como também não exibe os dotes tão caros a um filme clássico. Fica no meio do caminho e até pode abrir os olhos de algumas pessoas, mas o mérito será muito mais do paciente do que do médico. Não será sempre assim?
setembro 26, 2008 No Comments
20 filmes para o “primeiro encontro”

Quando eu estava voando de Londres para Madri, para passar o tempo, pedi uma edição do The Times para ler. Apesar da manchete ser extremamente interessante (“Archbishop believes gay sex is good as marriage”), deixei de lado e fui direto para a parte de cultura, que destacava uma daquelas listas que nós – filhotes de Rob Fleming – sempre adoramos. Dois jornalistas (um homem e uma mulher, claro) apontam os vinte melhores filmes para assistir em uma noite a dois (um encontro). Tem coisas que conheço, babas melosas e, claro, alguns filmes obrigatórios.
Revi um dos filmes do listão assim que voltei de viagem. Quem pensou em “Antes do Por-do-Sol” acertou. Fui rever em que maldito cruzamento após a livraria Shakespeare and Co eu errei a entrada, e descobri que após as três ruas certas que fiz, o filme corta a travessia da rua e a cena já aparece na quarta ruazinha, mas é por ali mesmo. Na próxima vez que estiver em Paris garanto: vou achar o café! Revi também, hoje, “Como Perder Um Homem em Dez Dias”, que não está na lista e nem deve ser visto no primeiro encontro. Ou deve? Não sei, só acho uma comédia romântica fofíssima.
A lista abre com “Núpcias de Escândalo” no número 1, uma comédia romântica de 1940 com Cary Grant e Katharine Hepburn que o Times define como “inteligente e romântica sem ser melosa”. No segundo posto, “Annie Hall” (1977), de Woody Allen, para mim, a comédia romântica perfeita (eu já falei sobre isso aqui). O Times assume o contra-senso de colocar no segundo posto de uma lista de filmes para se ver a dois um filme que narra o fim de um relacionamento, “mas há algo que transcende, como a cena com os entes queridos ou a da lagosta”, escreve a repórter. Assino embaixo.
Na terceira posição, uma surpresa: “Brokeback Mountain” (2005), o belo filme de Ang Lee sobre o amor entre dois cowboys (escrevi na época). “O filme de Lee é um testemunho do poder do amor contra as probabilidades”, define o jornal. Na quarta posição, outra surpresa: “Digam o Que Quiserem” (1989), filme de estréia do grande Cameron Crowe que até hoje não assisti (agora tenho em DVD). Wendy, a repórter, dispara: “Eu desafio qualquer um a não se derreter na cena em que John Cusack faz uma serenata para sua ex cantando In Your Eyes, de Peter Gabriel, debaixo da janela”.

Cameron Crowe, por sinal, crava dois filmes no Top 20: seu excelente “Jerry Maguire” (1996), uma das raras comédias românticas escritas para homens, aparece em 16º lugar. Kevin, o repórter, reclama das cenas de futebol americano (que eu curto), mas se derrama pela famosa cena final, em que Tom Cruise entra na sala lotada de solteironas e diz, “vai ser aqui mesmo”. Eu tenho uma versão em MP3 de “Secret Garden”, de Bruce Springsteen, com vários diálogos do filme, e sempre me arrepio com a frase final do filme, de Renée Zellweger.
Em quinto lugar aparece “Sideways” (2004), que sinceramente nunca me comoveu e, em sexto, a dobradinha “Antes do Amanhecer”/”Antes do Por-do-Sol” (1995/2004), de Richard Linklater (texto meu da época). Em sétimo, “Amor à Flor da Pele” (2000), de Wong Kar-Wai: “Lânguido, exuberante e recortado por uma requintada melancolia, este é um dos romances visualmente mais deslumbrantes da história do cinema”, diz o Times. Em oitavo, “Acossado” (1960), de Godard: “…um debate sobre felicidade, liberdade e intimidade” (e Jean Seberg… suspiro pra ela aqui).
Na nona posição, outro filme com Cary Grant, desta vez assinado por Alfred Hithcock: “Intriga Internacional” (1960). A justificativa do Times é divertidissima: “É tudo sobre o poder da sugestão. Após duas horas de perseguições frenéticas e espionagem internacional, Cary Grant e a hot blonde Eva Marie Saint entregam-se ao amor num trem transcontinental. Eles se beijam, se abraçam, e imediatamente antes dos créditos finais o trem mergulha em um túnel maravilhoso. Você vira, então, para o seu par. Yep, a noite está apenas começando” (risos).
Para fechar o Top 10, “Pânico” (1996), de Wes Craven. A lista segue – bastante duvidosa – com “Dirty Dancing” (1987), “Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças” (2004 – escrevi aqui), “Ghost” (1990), “Um Casamento à Indiana” (2001), “Gostosa Loucura” (2001), “Jerry Maguire” (1996), “Água Negra” (2002), “Shortbus” (2006), “A Força do Destino” (1982) e “O Clã das Adagas Voadoras” (2004), este último recomendado para pessoas que gostam de pequenas brigas no relacionamento (sim, elas existem).
A reportagem do The Times (e todos os comentários do “casal” de repórteres) só está disponível para assinantes aqui (mas há outro Top 50 aqui). Preste atenção que há links relacionados no texto do The Times com outras três listas, entre elas um Top 10 sobre os filmes que podem matar um encontro, incluindo “Vera Drake” (2004) e “Irreversível” (2002). E qual filme você indicaria para um encontro? Será que “As Pontes de Madison” (1996 – aqui) é muito intenso? E Billy Wider (“Sabrina”, “Se Meu Apartamento Falasse”) é muito leve? Hummm, acho que vou de “Feitiço do Tempo” ou… “Embriagado de Amor”. Será?

agosto 14, 2008 2 Comments
Cinema: “Joy Division”, o documentário
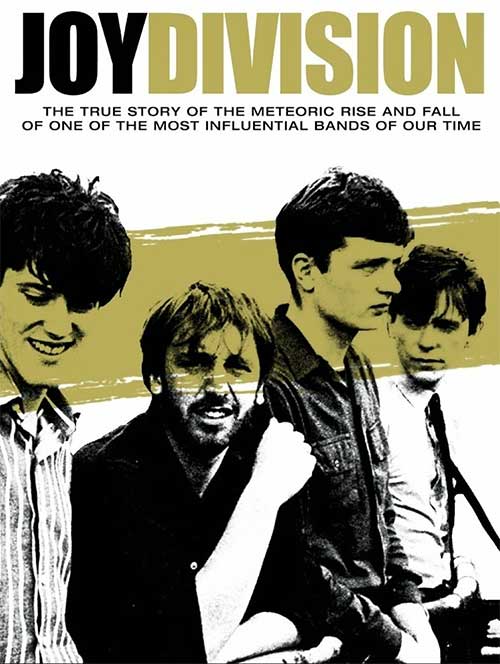
“Joy Division”, de Grant Gee – Cotação 4/5
Na temporada em que o mundo redescobriu Ian Curtis, dois longas ilustram a trajetória do mártir pós-punk: “Control”, de Anton Corbijn, aposta no preto e branco tendo como base o livro de Deborah Curtis, viúva do cantor. “Joy Division”, de Grant Gee, finca-se apenas no preto ouvindo todos os demais “envolvidos”, menos Deborah (embora seu livro seja citado em vários trechos do filme). Enquanto o primeiro filme dramatiza a história do vocalista, o segundo tenta documentar o período, num esforço interessante de contar a história da banda.
Grant Gee, que tem no currículo no excelente “Meeting People Is Easy” (documentário que flagra os traumas do Radiohead pós “Ok Computer”), coloca seus “personagens” na parede e os deixa falar, falar e falar. Optando por esse formato convencional de documentário, Gee acaba por hiperbolizar a história da banda, que por si própria tomou dimensões estratosféricas após o suicídio de Ian Curtis, em maio de 1980, às vésperas da primeira turnê norte-americana do grupo.
Esta nova mitificação do mito serve para colocar várias peças em seus devidos lugares, principalmente entre os três integrantes do Joy Division: Peter Hook, Bernard Sumner e Stephen Morris abrem o coração para o cineasta em um mea-culpa composto por “50% de tristeza, 50% de raiva” (palavras do baterista) em relação ao ato final do amigo. “Nós só fomos prestar atenção às letras quando Deborah as publicou em um livro. Pensamos: era disso que ele estava falando?”, diz um entrevistado.
Sumner fala pausadamente; Morris fala desajeitamente, rindo – aparentemente de nervoso – nas lembranças mais dolorosas; Hook é um tosco que virou baixista e faz questão de deixar isso bem claro, mas é responsável por uma das declarações mais fortes do documentário: “A única coisa que me arrependo em minha vida foi não ter ido ao funeral”. Boa parte do valor do documentário está nas declarações destes três homens que evitaram durante anos falar sobre o assunto.
Gee, ainda, conseguiu reunir peças importantes para recontar a história de uma das bandas mais importantes de Manchester: o jornalista e empresário Tony Wilson, o designer Peter Saville, o fotógrafo Anton Corbijn, o músico Pete Shelley (Buzzcocks) e a jornalista (e amante/namorada) de Ian Curtis, Annik Honoré, entre outros nomes. Também reuniu um acervo de imagens raras da época de registros de shows em vários lugares, cuja baixa qualidade apenas aguça a curiosidade do espectador.
Não espere, no entanto, descobrir algum fato novo em “Joy Division”. O documentário se presta muito mais a imortalizar o mito com declarações oficiais – as primeiras – do que esmiuçar a história. Quase todos os temas abarcados já foram dramatizados em filmes como “A Festa Nunca Termina” e “Control” além do livro “Touching From a Distance”, de Deborah, e os motivos que cercam o suicídio continuam nublados (depressão x coração dividido x epilepsia), embora Gee (e seus entrevistados) acredite numa junção de vários fatores enquanto Corbijn, em “Control”, pareceu focar apenas no desastre romântico do vocalista.
São dois filmes imperfeitos, mas que juntos (e com a companhia de “A Festa Nunca Termina”) jogam luz sob um dos grandes poetas do rock britânico, e embora a fotografia e as boas atuações credenciem “Control”, Grant Gee pula a frente por flagrar os personagens reais dessa epopéia recontando conquistas e dramas. Funciona como a versão oficial de um dos momentos marcantes da história da música pop e é perfeito tanto para jovens que estão descobrindo o Joy Division agora tanto quanto para fãs de anos e anos que, pela primeira vez, vão poder ver os próprios personagens remexendo o baú da memória. Pena que o personagem principal não esteja vivo para contar a sua versão. Pena mesmo.
junho 15, 2008 No Comments
Cinema: “Antes que o Diabo Saiba que Você está Morto”

“Antes que o Diabo Saiba Que Você Está Morto”, de Sidney Lumet – Cotação: 3,5/5
Você já (ou)viu essa história neste ano. Ou quase a mesma história. Dois irmãos em meio a uma enrascada financeira cometem um crime que envolve diretamente toda a família. Sim, sim, parece “O Sonho de Cassandra”, de Woody Allen. Os dois filmes foram rodados quase simultaneamente e praticamente estrearam juntos. O argumento semelhante pede uma comporação, e Woody Allen sai perdendo: “Antes que o Diabo Saiba Que Você Está Morto” é tudo que “O Sonho de Cassandra” poderia ter sido.
Na verdade, o 45º filme de Sidney Lumet, (diretor de clássicos como “Doze Homens e Uma Sentença”, “Um Dia de Cão” e “Sérpico”) também não é essa coca-cola toda. Porém, mesmo tendo contra si atuações fracas de Ethan Hawke (fazendo o único papel que sabe fazer: jeca), Philip Seymour Hoffman (ele pode muito mais) e Marisa Tomei (em um personagem constrangedor da gostosa burra que não convence), surpreende pela maneira como o diretor conta a história e fisga o espectador desde o início.
Tudo começa com um assalto. Um homem encapuzado entra em uma joalheira, rende a senhora que toma conta da loja, e enquanto saca o dinheiro dos caixas e as jóias do cofre, se distrai e leva um balaço nas costas. Essa cena – e tudo que aconteceu nos quatro dias anteriores e na semana posterior – delimitará o tempo/espaço do filme, e fará com você não se mexa na poltrona enquanto a trama se desenrola. É impressionante o controle que o diretor tem sobre a história.
Philip Seymour Hoffman é Andy, o irmão mais velho. Trabalha em uma grande imobiliária, em que cresceu profissionalmente, mas que está prestes a ver sua ruína. Andy é casado com Gina (Marisa Tomei), e está tentando reconstruir o casamento sem saber que a mulher o está traindo. O outro lado da moeda é Hank, irmão caçula, um loser com todas as letras piscando na testa. Ele tem uma filha, está separado da mulher, e deve três aluguéis de pensão. A joalheria assaltada é da própria família de Hank e Andy. Tente montar o quebra-cabeça.
Sidney Lumet já recebeu mais de 50 indicações ao Oscar por seus filmes e ganhou o prêmio de Conjunto da Obra em 2005, e mostra estar em plena na forma com “Antes que o Diabo Saiba Que Você Está Morto”. A culpa é um dos temas caros ao diretor, e chega a impressionar a semelhança de seus irmãos com os irmãos de Allen em “O Sonho de Cassandra”, mas Lumet consegue incomodar enquanto Allen distancia o espectador. Problema de ambos os filmes, no entanto, o fechamento rápido deixa um pouco a desejar.
Não deixa de ser interessante observar que ambos os filmes analisam o sentimento de uma pessoa após cometer um ato imoral. Os dois diretores parecem dualizar a culpa dividindo-a entre dois personagens, um que sabe lidar com esta culpa e faz o que precisa ser feito, e outro que tropeça no próprio ato de continuar respirando após o ato cruel. Allen e Lumet (e a sociedade) condenam os personagens de forma tão profunda que não permitem nenhuma forma de perdão. E o perdão realmente existe? Uma questão para se pensar após um grande filme.
junho 14, 2008 No Comments
Cinema: “O Sonho de Cassandra”

“O Sonho de Cassandra”, de Woody Allen – Cotação: 3/5
“A única coisa que importa é a família. O mesmo sangue”, diz um personagem em certo momento de “O Sonho de Cassandra”, trigésimo sexto filme da carreira de Woody Allen, terceiro consecutivo filmado em Londres. O cineasta norte-americano retorna ao território dos soberbos “Crimes e Pecados” (1989) e “Match Point” (2005) apoiado em tragédia grega e Dostoievski para contar a história de dois irmãos que passam por problemas financeiros.
Ian (Ewan McGregor ótimo) é o irmão mais esperto, aquele que a família acreditava que iria se dar bem na vida, e que está sempre planejando algo para dar um salto de classe social. Terry (Colin Farrell excelente), por sua vez, é mais contido. Trabalha numa borracharia, é viciado em jogos de apostas (cavalos, pôquer, o que for) e usa mais a cabeça para sustentar os cabelos do que para pensar. Num paralelo roqueiro, seria como se um fosse o Noel Gallagher e, o outro, o Liam.
Apesar de pobretões, os dois irmãos foram muito bem criados por seus pais (ele, um dono de restaurante; ela, irmã de um proeminente médico), não se desgrudam e acabaram de comprar um velho barco, o qual deram o nome de “O Sonho de Cassandra”. Ian é gerente do restaurante do pai, mas fingi ser um ricaço (passeando nos carros poderosos que o irmão lhe empresta da borracharia), apaixona-se por uma jovem atriz e precisa de dinheiro para colocar em prática os seus sonhos. Terry, por sua vez, perde uma fortuna no pôquer. Os dois estão enrascados.
É nesse momento da trama que surge Howard (Tom Wilkinson), o tio médico milionário, que também está em uma enrascada, e precisa da ajuda dos dois sobrinhos em troca de uma boa quantia de dinheiro. O servicinho não é dos mais simples, e os dois irmãos entram em crise chocando a necessidade do dinheiro com a crueldade do ato encomendado pelo tio. Como sempre, nestes momentos, surgem atenuantes que procuram justificar a validade do ato a ser consumado (”Se não fizermos isso, este homem irá acabar com a vida do nosso tio”, diz Ian) e a frase que abre este texto.
Woody Allen conduz a história com suavidade na primeira meia hora da história. Apresenta os personagens, faz com que o público os admire, e começa a injetar suspense apenas na segunda metade, quando Ian deixa de lado a garçonete do restaurante de seu pai pela jovem atriz, e Terry perde em uma noite três vezes mais tudo o que havia ganhado no dia anterior. É uma pequena ruptura na simplicidade da vida familiar, cujo passa poderá mudar a vida dos dois rapazes. “Se fizermos isso, não terá volta”, prevê Terry em certo momento.
Ao contrário de “Match Point”, cuja história trafegava nos altos círculos das castas inglesas, “O Sonho de Cassandra” é todo classe trabalhadora. Se o pano de fundo da história muda, o sentimento que Woody Allen analisa é o mesmo de “Crimes e Pecados” e “Match Point”: como lidar com a culpa de um assassinato. No primeiro, o marido encomenda a morte da amante, e apesar de ter que lidar com o fantasma dela, vai deixando o remorso de lado enquanto a vida passa. “Match Point” ainda discute a sorte, mas prevê que a culpa (e o fantasma dela) perseguirá o assassino até o fim de seus dias.
Em “O Sonho de Cassandra”, porém, não há tempo para o futuro. Ian tenta esquecer o que fez enquanto faz planos com a namorada. Terry enlouquece. Se vê queimando no inferno, passa noites em claro corroído pela culpa e planeja se entregar a polícia. A simplicidade da vida cede lugar à tragédia grega. Allen só poderia ter caprichado mais no desfecho rápido e cortado, que remete ao conto “Venha Ver o Por do Sol”, de Lygia Fagundes Telles, com crianças brincando de roda (no filme, namoradas fazendo compras) enquanto a tragédia se anuncia. A família é o que importa. Será mesmo?
maio 23, 2008 No Comments
Cinema: “Três Vezes Amor”

“Três Vezes Amor”, de Adrian Brooks – Cotação: 3/5
Will está passando por um processo de divórcio. Em meio a papelada que marca o fim jurídico do relacionamento, Will tem que lidar com a insatisfação de um emprego que não o faz feliz e com os questionamentos de sua filha sobre sexo, pênis invadindo vaginas (isso mesmo) e o milagre muitas vezes não esperado da procriação. Maya, a filha, passa dois dias da semana com ele, e está decidida a saber o que motivou sua vinda ao mundo. Deste argumento batido nasce uma das melhores comédias românticas em muito, muito tempo.
Maya (a “Pequena Miss Sunshine” Abigail Breslin em excelente atuação) não poupa Will (Ryan Reynolds bastante convincente) e quer dele a verdade sobre a natureza de seu nascimento. Will, por sua vez, propõe uma brincadeira para a filha: ele irá contar detalhadamente suas principais desventuras amorosas trocando os nomes das protagonistas para que a filha descubra quem é sua verdadeira mãe em meio aos romances que abalaram (e ainda abalam) seu coração.
Voltamos para 1992 e entram em cena Emily (namorada da faculdade que ficou no interior quando Will foi batalhar a vida na Big Apple), April (amiga que trabalha no mesmo lugar que Will, o escritório em Nova York da campanha do então candidato presidencial democrata, Bill Clinton) e Summer (amiga de Emily que mora em Nova York e namora seu orientador de tese – Kevin Kline em uma ponta inspiradíssima). Estas três mulheres (os três amores do clichezado título nacional) valem o filme. Ok, três mulheres e meia.
Emily (Elizabeth Banks) não consegue acompanhar os sonhos do namorado, e por insegurança acaba por cometer um clichê romântico. April é apenas a menina da copiadora, que está ali porque pagam bem, não por Bill Clinton (o que já rende ótimas gags). Além, é sempre a mulher certa na hora errada. Já Summer (um looooooongo suspiro para Rachel Weisz) é o tipo de mulher deslumbrante que Will nunca imaginaria namorar, quiçá casar. Nosso herói irá passar poucas e boas nas mãos destes três deliciosos arquétipos do sexo feminino.
Um dos grandes trunfos de “Três Vezes Amor” é a esperteza do roteiro. Escrito e dirigido por Adrian Brooks (que assinou o segundo Bridget Jones), “Três Vezes Amor” constrói pequenos núcleos narrativos que se intercalam a perfeição durante os 105 minutos do filme. Will conta a história para Maya, que vai anotando tudo. A grande sacada do roteiro é não glamurizar os personagens. São pessoas comuns vivendo histórias de amor comuns. O pano de fundo (da eleição presidencial de Clinton até o caso Monica Lewinsky) serve como uma deliciosa metáfora para a história, que ganha profundidade sem perder a simplicidade.
A trilha sonora também é bem cuidada. O título original lhe diz alguma coisa: “Definitely, Maybe”? Não há nenhuma música do Oasis na trilha, mas o primeiro nome de pessoa que surge na tela é o da professora Gallagher. Não pode ser à toa. Como voltamos para 1992, R.E.M. e Nirvana entram de trilha sonora (”Quem é Kurt Cobain?”, pergunta o politizado Will em certo momento para uma amiga), mas há também espaço para Otis Redding, Massive Attack e Sly and The Family Stone.
Entre idas e vindas, “Três Vezes Amor” convence com seu charme sonhador, seu roteiro pontual e sua dose de açúcar no ponto certo. Críticos sérios e aficionados por cinema costumam desdenhar comédias românticas sem se atentar que mesmo os grandes diretores (Billy Wilder à frente) já se renderam – e criaram pequenos clássicos – ao estilo. Porém, duas décadas de Meg Ryan serviram para traumatizar grande parcela do público (se fossem só “Harry & Sally” – a comédia romântica definitiva – e “Sintonia de Amor”). Dica: deixe o preconceito de lado e encare de frente está “arid comedy” estilizada, um dos melhores filmes do gênero desde o divertidíssimo “O Casamento do Meu Melhor Amigo”. E aprenda: o amor não é uma questão de quem, mas sim de quando.

maio 8, 2008 No Comments
Do humor
O humor é algo bem interessante. Constantemente me pego fazendo coisas que não faria em determinadas situações, tipo, comprar coisas que em uma situação normal não compraria, ou gostar disso ou daquilo, e depois perceber que aquele filme, CD ou coisa que o valha não era aquela coca-cola toda. Acontece. Tem dias que fico lendo meus próprios textos e demoro a achar um que preste. Em outros dias, porém, até dos meus poemas eu gosto. Vá entender.
Pensei nisso tudo, pois hoje na hora do almoço passei nas Lojas Americanas do Shopping Iguatemi e, diante das promos de DVDs, comprei um filme que eu nunca compraria em uma situação normal. Peguei primeiramente o “Despedida em Las Vegas”, do Mike Figgs, que baixou de R$ 19,90 pra R$ 12,90, e eu vou querer rever esse filme uma outra vez com certeza (o filme definitivo sobre o vício em alcoolismo, já que o clássico “Farrapo Humano” derrapa nos últimos cinco minutos).
Peguei também “O Ilusionista”, com Edwart Norton, que perdi no cinema e queria ter muito visto. Na época, entre ele e “O Grande Truque”, do Christopher Nolan, fiquei com o segundo (e não me arrependi – filmão!). Como o DVD estava custando R$ 9,90, não pensei duas vezes. Por último, antes de devolver o DVD de “Os Outros” (uma ótima cópia de segunda categoria de “O Sexto Sentido”) peguei… “O Código Da Vinci”, edição dupla, caprichada, com 25 minutos a mais de filme.
Dois anos atrás escrevi o seguinte: “Não deixe se enganar pelos números de bilheteria do filme e nem pela vendagem astronômica do livro. O Código Da Vinci é um simulacro de literatura e de cinema (texto na integra)”. Catzo, o que me fez pegar o DVD então? Ok, ele estava baratinho (R$12,90), tem os extras e fiquei realmente com vontade de conferir se a versão estendida consegue tapar os buracos deixados no cinema, mas… bem, eu estava bem humorado. Só pode ser isso. Não sei como não peguei o clássico “Curtindo a Vida Adoidado” e “Quem Vai Ficar com Mary?” também…
Se um dia você me ver comprando “Olga”, por favor, evite.
Ps: Apareceram nas Lojas Americanas os três filmes da Trilogia das Cores, do Kieslowiski. Não é a mesma edição bacana do box da Versátil (que você até encontra separado por ai, nunca abaixo dos R$ 25), com extras, entrevistas e outras coisas legais, e sim uma edição mais simples, que vale os R$ 12,90 cada filme (pela excelência da trilogia), mas a edição especial é tãooooooo melhor.

abril 24, 2008 No Comments
Maratona
Começo neste fim de semana uma maratona de eventos pré viagem para Europa que deve bagunçar completamente a minha cabeça. Sábado viajo para Parati, para passar o final de semana prolongado a base de lasanha de palmito pupunha e cachaça. No final de semana seguinte, não bastasse ter Virada Cultural em São Paulo, estou de plantão no iG. Ou seja, na hora em que eu deveria dormir, vou estar trabalhando. :/ No fim de semana seguinte, voo para Porto Alegre com destino a São Leopoldo, casamento de um casal querido de amigos. O quarto fim de semana por enquanto está vago, mas o quinto já está ocupado com uma nova viagem para Porto Alegre, destino Ijuí, outro casamento de amigos queridos. Terminou? Não. Para o sexto fim de semana apareceu outro casório especial, desta vez de uma amiga querida da Lili, e lá vamos nós para… Brasília (achou que fosse Porto Alegre de novo, né).
Ou seja: dos próximos seis fins de semana, cinco estão ocupados. E eu ainda nem escrevi para a professora de inglês (acho que perdi o papel com o e-mail dela) e nem comecei a preparar as reservas da viagem de férias para a Europa. Medo. Três vezes.
*************
Tô querendo ver o DoAmor no Studio SP, nesta quinta, mas tô com uma preguiça…
*************
Na sexta passada listei seis filmes que eu gostaria de assistir no cinema nesta semana. Já foram três: “Um Beijo Roubado” (o texto fala por si só), “Senhores do Crime” (nem me deu vontade de escrever, apesar de ser um bom filme) e “A Culpa é do Fidel”. Este último deu uma balançada no meu coração apolítico. Chorei quando começaram a cantar a vitória do Salvador Allende…
*************
“Flávio Basso é o equivalente nacional de Amy Winehouse no que diz respeito à chapação”. Com essa frase abro a 500 Toques desta semana: Júpiter Maçã, Aerocirco e Beto Só (leia aqui).
*************
Comprei a edição dupla em DVD do “Vidas Amargas”, uma coletânea dupla da Clara Nunes, e chegaram via correio a edição quádrupla do “Un Viaje”, do Café Tacuba (três CDs e um DVD) além da versão remaster do álbum de estréia do Violent Femmes, com uma penca de canções extras além de um CD bônus. Vi “Mais Estranho Que Ficção” em casa. Filmão, hein. Ah, já achou o álbum de estréia do “supergrupo” (ahn?) The Last Shadow Puppets? Só achei o EP e… será que vou me arrepender por escrever agora que achei o lance meia boca? Ok, só ouvi três vezes, mas pelo que li em alguns blogs amigos, parecia que estava surgindo a terceira guerra mundial. Tsc, não parece nem uma briga de torcedores do Juventus contra os da Portuguesa… mas prometo ouvir melhor. Antes, vou tomar banho… e dormir.
abril 16, 2008 No Comments
Nuvem Nove e Pasolini
A Nuvem Nove, uma das lojas de CDs mais bacanas de São Paulo, fechará às portas no dia 26 de abril. A primeira vez que fui à loja foi em 2000. Recém mudado para São Paulo, e trabalhando no iG (na primeira das minhas três passagens pelo portal), fui convidado a conhecer o local por dois Fábios, Sooner e Bianchini, com mais alguns outros amigos. Tratava-se da Confraria da Sacola Azul, uma turma de jornalistas que baixava na loja todo dia 15 e 30 (vale e pagamento) para se abastecer dos bons itens que a loja oferecia. A Confraria não durou muito tempo, mas a loja permaneceu firme até o mês passado, quando o Zé, dono da loja, anunciou o fechamento.
Passei por lá hoje, e as prateleiras já estão bem vazias, mas há ainda como encontrar boas coisas por bons preços. Dentre os achados de hoje estão o “Peace and Noise” da Patti Smith, o “1999? do Prince, “Lê Danger” da Françoise Hardy, o volume 2 do songbook do Ary Barroso, e o grande achado dos últimos meses: o box “A Trilogia da Vida”, de Píer Paolo Pasolini, com “Decameron” (1971), “Os Contos de Canterbury” (1973) e “As Mil e Uma Noites” (1974). Dos três, assisti apenas ao último em uma sessão no CCBB, anos atrás.
Fiquei tão apaixonado pelo cinema do cineasta italiano que comentei com um amigo, Márcio, cinéfilo de longa data, que relembrou como tinha sido assistir ao polêmico “Saló” em uma das primeiras edições da Mostra Internacional de São Paulo, em 1979. “Estava uma bagunça na sala, falação e piadinhas, coisa de quem não estava acostumado com um evento como a Mostra. Parecia uma sala de aula, e ficou assim até uns dez minutos de filme, quando começaram a sair pessoas da sala assustadas com Pasolini”. Sensacional.
Este reencontro com Pasolini e as lembranças de vários amigos nesse post servem para mostrar o quanto uma loja interessante quanto a Nuvem Nove pode fazer parte da vida afetiva de qualquer pessoa. Boas lojas de CDs, sebos, livrarias, cinemas e shows são lugares ótimos para se encontrar pessoas legais. Na Nuvem Nove (assim como na Sensorial e na Velvet CDs, estas duas na Galeria Presidente, no centro de São Paulo), porém, o interessante não era só comprar música, mas conversar sobre ela. Não à toa, vários encontros de participantes da comunidade da revista Bizz no Orkut foram marcados ali.
Com o fechamento das portas da Nuvem Nove, São Paulo não perde apenas mais uma loja de CDs, mas perde sim um ponto de encontro de pessoas apaixonadas por boa música, algo que pode soar tolamente romântico, mas é a mais pura verdade. Uma grande perda, sem dúvida.
abril 15, 2008 No Comments


