Os tempos modernos de Bob Dylan
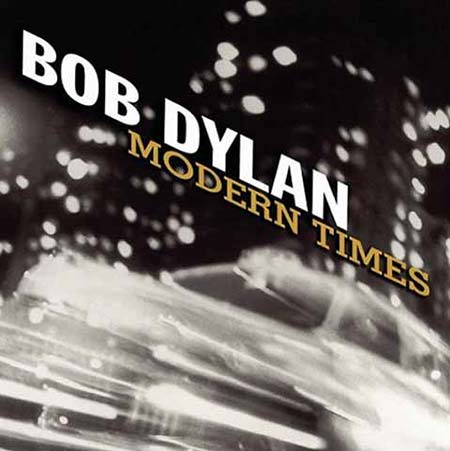
Quando se fala em rock sempre vem à mente a imagem de algum moleque desajustado tocando sua guitarra num volume ensurdecedor. Mas será que é isso mesmo? Ok, vamos aprofundar. Sempre venderam o rock como algo juvenil, desajustado, fora da sociedade. Isso tudo, claro, até a indústria cultural ver potenciais de ganhar grana com o negócio, transformando músicos em celebridades e todo o cenário em um grande circo. Não é um fato recente: Raul Seixas refletia em seu disco mais clássico, de 1975: “Mamãe já ouve Beatles, Papai já deslumbrou, com meu cabelo grande eu fiquei contra o que eu já sou” (”A Verdade Sobre a Nostalgia”). O interessante é lembrar que os Beatles cantavam desde “Dr. Robert” até “She’s Leaving Home”.
A questão toda, na verdade, é que mais do que ser uma música juvenil, de suor e transpiração, o rock envelheceu desde que Elvis chacoalhou seus quadris pela primeira vez, e por mais que Mick Jagger continue cantando “Satisfaction” após 40 anos, quem vai ousar dizer que o velhinho não é rock’n’roll? E os velhotes pilhados do Gang of Four, que fizeram um show absurdamente barulhento e sensacional semanas atrás em São Paulo (e também em Floripa e Belo Horizonte), não são roqueiros?
A temática é muito mais abrangente do que esta coluna permite vislumbrar, mas ao ouvir “Working Man’s Blues #2?, a sensação de que o homem que a canta viveu tudo que o rock lhe permitiu ser vivido (e mais) joga pelo ralo qualquer idéia do contrário. A questão não é sobre este homem ter mudado a história da música pop mundial (e ele mudou), e sim ele estar ainda radiografando o mundo com tanta lucidez e inteligência. Como escreveu Ana Maria Bahiana certa vez: “Nirvana foi uma faísca, enquanto o R.E.M. é uma fogueira, e eu, particularmente, estou mais interessada no desafio da sobrevivência e da longevidade do que na saída fácil da vida breve e fulminante”. Eu também, Ana, eu também.
Do alto de seus 65 anos, Bob Dylan lança um disco que não é para a molecada dançar na balada urrando as letras (para isso existe o – ótimo – single do Killers) muito menos para ser ouvido enquanto se passa manteiga no pão no café da manhã. Dylan precisa de mais atenção. “Modern Times” é um disco de temática quase antagônica, falando sobre sexo e morte. E também sobre amor. E também sobre um mundo que está se desintegrando na frente dos nossos olhos. Ou será tudo a mesma coisa? É um disco para se ouvir em um bar acompanhado de luzes que se misturam com a fumaça de cigarro num balé melancólico. Seu autor ousa relembrar que mesmo tendo vivido mais de seis décadas de vida, o mundo continua um lugar imperfeito, solitário e vazio. Mas o próprio, em entrevista ao jornal USA Today, atesta que não há nada de nostálgico no álbum. Nostalgia, quem diria, é objeto de culto muito mais juvenil.
E não que é não existam rocks em “Modern Times”. A faixa que abre o disco, “Thunder On The Mountain”, é um rock clássico, com direito a guitarra solando e um interlocutor que gostaria de saber onde encontrar Alicia Keys (e não é para ouvi-la cantar). A mesma levada pode ser ouvida na suave “Someday Baby” e na soturna “The Levee’s Gonna Break”, com Dylan cantando de forma direta nesta última: “Se continuar chovendo, o dique vai quebrar: algumas pessoas estão dormindo, mas outras estão bem acordadas”. Ainda nas aceleradas, o bluezaço “Rollin’ and Thumblin” (com jeitão Robert Johnson de ser) acelera em direção ao rockabilly. Das dez canções do disco, é apenas nestas quatro que se ouvirá algum frescor (ahñ) juvenil que, talvez, lhe faça ter vontade de balançar o corpo ou, no máximo, marcar a melodia com os pés. Nas outras seis canções, jazz, folk e blues fazem a cama para que Dylan exercite sua visão do mundo.
De sotaque jazz, “Spirit on the Water” fala de pesadelos. “Eu estou suando sangue”, diz a letra. “When the Deal Goes Down”, cujo clipe traz a musa do momento Scarlett Johansson, é uma balada folk que não revela em sua levada a temática pesada da letra que procura um sentido em estar vivo, e diz a certa altura: “Nós vivemos e nós morremos, e não sabemos porquê”. O clima se acalma na suavidade de “Beyond the Horizon”, que imagina: “Além do horizonte é fácil amar”. Lembra o Rei Roberto em sua fase pós-Jovem Guarda dizendo que “Além do horizonte existe um lugar bonito e tranqüilo pra gente se amar”. O clima volta a pesar na arrastada “Nettie Moore” e fica ainda mais sombrio em “Ain’t Talkin’”, faixa que encerra o disco com Dylan contando “que não há nenhum altar nessa estrada longa e solitária”.
Dentre todas estas, a que merece maior atenção é a já citada “Working Man’s Blues #2?, canção que atualiza para os tempos modernos um velho country de Merle Haggard. Enquanto o original versava sobre como o trabalho comprara o espaço da diversão (na letra, após uma semana de batente e muito cansaço, o cara planeja sair para beber uma cerveja quando o pagamento chegar), “Working Man’s Blues #2? avança criticando não só esse capitalismo que vendeu um sonho e acabou, no fim, comprando a alma de todos, mas também suas conseqüências, entre elas a mais visível: a divisão do povo em ricos e pobres. “Working Man’s Blues #2? consegue ser ainda, do alto de seus seis minutos, uma belíssima canção de amor.
Dylan já não tem a necessidade de escrever que tinha quando era jovem. Segundo ele, na entrevista ao USA Today, chega uma hora em que é muito mais difícil encontrar uma finalidade para se fazer algo diferente. No entanto, ele sabe que talvez seja complicado para o ouvinte compreender não só a temática do disco, mas as canções como canções mesmo: “Cada canção significa o que você disser que significa. Ela te golpeia onde você pode sentir, e sentindo ela terá um significado para você. É um tipo de música que tem a finalidade de mexer com a pessoa, e para fazer isso ela tem que ter mexido comigo mesmo primeiramente”, explica.
É muito complexo dizer o que as pessoas precisam de verdade, seja música, filmes ou mesmo aparelhos domésticos. Se eu fosse moleque hoje em dia, provavelmente eu precisasse de Clash e Sex Pistols – ou quem sabe, Nirvana – mais do que Strokes, Killers ou Be Your Own Pet. Mais do que todos eles, na verdade, eu precisaria de Aldous Huxley, Lygia Telles e Shakespeare, mas essa é uma outra questão. O que realmente preocupa é limitar o que uma pessoa precisa, tenha ela 14, 36 ou 65 anos. Novamente recorro a Ana Maria Bahiana, que escreveu:
“Eu, por mim, recomendo a qualquer um – de 16, 21, 30, 45, 55 anos – que, ao menos uma vez por semana, escute algo que jamais pensaria escutar. E, certamente, algo que fuja dos padrões daquilo que as gravadoras determinaram ser “apropriado” para sua faixa etária – um ouvinte de 16 anos tem tanto a se beneficiar com uma audição de A Nod Is as Good as a Wink, dos Faces, quanto um de 55 do disco do Kula Shaker. É um santo remédio, o equivalente a uma corrida no calçadão, uma hora de malhação, uma partida de basquete: o suficiente para manter os ouvidos flexíveis, o cérebro desentupido, o coração palpitante e prevenir a instalação – muitas vezes precoce – do reumatismo estupidificante do classic rock”.
Pense nisso. E ouça “Modern Times” com bastante atenção. Ele está falando deste tempo sombrio que estamos, todos, vivendo. Ele não precisa de você, afinal, ele é Bob Dylan. Mas talvez você precise dele mais do que qualquer outra coisa, e ainda não descobriu.
Leia também:
– “I’m Not There”, de Todd Haynes, por Marcelo Costa
– “No Direction Home”, de Martin Scorsese, por Marcelo Costa
– Bob Dylan, Martin Scorsese e a História Universal, por Marcelo Costa



0 comentário
Faça um comentário