Entrevista e fotos por Marcelo Costa
Em conceito, Wado é um dos artistas mais roqueiros da atualidade no Brasil, porém esqueça guitarras afiadas e sotaque emo. Wado está na contramão da indústria rock, e do próprio bom gosto pseudo-intelectual. Não é cool gostar de axé? “Atlântico Negro”, seu quinto disco solo, traz várias canções que poderiam ser cantadas por Ivete Sangalo ou Claudia Leitte. O discurso é outro, claro, mas a raiz emanando informação está ali.
Apesar de ter muitos afoxés, “Atlântico Negro” não é só isso. “Tem muito de samba. E tem os funks do final do disco. É música brasileira mesmo”, diz o compositor sem citar as belíssimas “Pavão Macaco” (do verso provocante: “Vem morar comigo neste apartamento, estamos um sobre os outros, temos satisfação”) e “Frágil” (em que o interlocutor convida: “Nesses dias ordinários, vamos nos conhecer, quero você comigo”).
“Atlântico Negro” foi premiado pelo Projeto Pixinguinha, o que permitiu ao músico investir na qualidade do álbum, gravando boa parte do disco em estúdio. “Atlântico Negro” cita o pensador inglês Paul Gilroy e assim como seu predecessor, “Terceiro Mundo Festivo”, está disponível gratuitamente para download em seu site oficial (http://wado.com.br/), mas também chega às lojas via Pimba, o novo selo independente de Ronaldo Bastos.
Em uma noite nublada em São Paulo, Wado e Pedro Ivo (produtor do disco) desceram a rua Bela Cintra para tomarem Hoegaarden, Leffe e Bamberg na casa deste jornalista em um bate papo honesto e bastante descontraído que visava refletir sobre passado, presente e futuro. Apesar de estar lançando disco novo, Wado já começa a idealizar um disco de sambas tristes, planeja voltar a morar na capital paulista e sente certa animosidade contra sua carreira, mas garante: “Me realiza trabalhar com música”. Com vocês, Wado.
“Atlântico Negro” é um nome bem forte. Nos shows você fala de uma teoria…
O disco já era isso (“Atlântico Negro”) não tendo esse nome, porque já venho mexendo com esses ritmos, essa coisa de samba, de afoxé, de funk carioca, e quando eu estava pesquisando para me inscrever no Projeto Pixinguinha, pelas tags que eu colocava sempre vinha esse negócio. E… bonito nome, né. Então fui ler um pouquinho e percebi que cabia pra caramba (no que eu estava fazendo). Achei um texto de referência do Hermano Vianna, um cara que foi importante nas coisas que fiz, acho que foi um dos meus “padrinhos”, e era um texto dele falando do antropólogo inglês Paul Gilroy. O livro foi publicado em 94, alguma coisa assim, e eu decidi pegar esse mote, e como era um livro, e eu ia fazer um disco, eu traduzi e mantive o mesmo nome. E esse diálogo entre Áfricas e Américas bate muito com aquilo que eu vinha fazendo. Deu para vestir a camiseta sem problema…
Tem a história da ramificação…
O Paul Gilroy não trabalha com o conceito de raiz original, que eu acho que é muito legal porque muitas vezes caímos em guetos. Tem uma coisa bacana da proteção, mas tem essa coisa muito chata do puritanismo. Então você tem o reduto do samba, e quem faz samba está dentro de uma grade, algo assim. E uma boa parte do que eu faço é samba, mas não é só samba. O Paul Gilroy trabalha com o conceito de rizoma, e a metáfora que ele usa é como se (a cultura) fosse uma grama com um monte de matinhos verdes emanando informação ao mesmo tempo. Então, a partir do primeiro navio negreiro você não tem mais uma raiz original. A cultura brasileira nunca mais foi a mesma e nem a africana, com a volta de escravos. Daí a capoeira brasileira retorna para Angola e já é outra capoeira. É quase a mesma coisa que aconteceu com o Miami Bass e o funk carioca. Agora a gente vê o mundo inteiro bebendo dessa fonte. “Boom Boom Pow” (do Black Eyed Peas) é isso…
O Timbaland fazendo isso no disco da Britney…
Os caras devem estar escutando alguma coisa do funk carioca. Tem coisa (de funk carioca) no som deles. Foi um radicalismo aqui que gerou um subproduto que não é mais original. É outra coisa. Acho interessante esse conceito de não trabalhar com raiz, cabe no que a gente faz, que é muito hibrido.
Então o disco já estava caminhando para essa coisa bem brasileira, Nordeste…
Engraçado que pra quem mora em Alagoas ele não pega como Nordeste porque pra gente lá o samba é muito carioca. E (o disco) tem muito de samba. É música brasileira mesmo. E tem os funks do final do disco que já eram coisas que a gente sempre trabalhou. Pra mim ainda é um disco muito brasileiro… e muito baiano. Ao mesmo tempo tem um folclore das baianas de Alagoas, que necessariamente não é Bahia. É um folguedo que se chama Baianas, mas que é especifico de Alagoas. Elas se vestem como baianas assim com as alas de uma escola de samba, mas aquilo ali já tem uma batida própria, o som delas…
Já incorporou o próprio local…
Na música (“Boa Tarde Povo”) tem sampler das velhinhas cantando e as batidas delas.
Como foi gravar o disco?
A gente captou 100% em Alagoas sendo que o que precisava ser feito em estúdio bom, a gente fez em estúdio bom e as demais coisas em casa. Uns 30% foi feito em estúdio… e a finalização foi feita em São Paulo e no Rio. As coisas chegaram muito bem gravadas editadas e o Kassin pirou, e tudo foi feito lá em Maceió. É o segundo disco que a gente faz lá. O “Terceiro Mundo Festivo” foi a mesma coisa com bem menos dinheiro…
Por causa do Projeto Pixinguinha, né.
É, a gente teve uma infra boa. Foram R$ 90 mil para fazer o disco e realizar três shows no Estado. E deu para pagar todo mundo legal. Inclusive, essa vinda (para São Paulo) é uma rebarbinha que a gente conseguiu economizar no projeto.
Vocês chegaram a fazer três shows lá?
Foram quatro… a gente colocou um a mais…
Como se tocar fosse ruim, né.
É (risos).
O disco foi pensado para o Projeto Pixinguinha, puxando esse lado mais brasileiro? Ou foi uma coisa natural?
Já era o que estava acontecendo de ensaio. A gente tinha feito o “Terceiro Mundo Festivo” com uma sonoridade muito eletrônica, e a gente ficou bastante feliz. É um disco bem certeiro. As informações são muito claras, é tudo bem nítido. Esse agora não. Ele é bem mais orgânico. Ele é palatável nessa coisa de ter uma sonoridade mais orgânica. Tem muita sala, muita ambiência de bateria, muito violão de nylon, violão de aço, guitarra, e o “Terceiro Mundo Festivo” quase não tem guitarra. É um disco mais piano, baixo, batera. Mais eletrônico. Engraçado, eu acho esse disco (“Atlântico Negro”) difícil de pegar de cara aqui no Sudeste porque ele mexe com algumas coisas que não estão no circuito, não estão valendo agora. Ao mesmo tempo acho que ele pode reverberar legal justamente por isso. A gente vem com afoxé, com algumas coisas que são meio axé, a primeira parte é meio axé mesmo. O Zeca Baleiro até me falou que eu devia usar um marketing com essa coisa do axé. E tem essa coisa do rock estar muito em voga no Sudeste, de ser um momento roqueiro.
As gravadoras se fecharam no rock, ou no emo, que eles acham que é rock, e fora disso pouca coisa passa. Então de repente a gente tem Rômulo Fróes e Curumin, que são caras que estão fazendo coisas legais, mas não tem espaço. Por outro lado, as micaretas levam 20 mil pessoas fácil…
Está tudo muito segmentado. Desses últimos três anos que eu voltei a morar em Maceió…
Como estão as coisas lá?
A gente tem tocado bastante, mas todo mundo tem outras bandas, ou trabalha com outras coisas. Tem uma renovação de cena. Acho que vem ai uma nova safra de discos de Alagoas bem boa. O Mopho está gravando com uma qualidade bem legal, com a banda quase no formato original. Tem a Cris Braun que está terminando o disco e está massa. O Xique Baratinho também está gravando disco. Tem o Vitor Piralho (baixe o disco dele aqui), que também foi premiado com o Projeto Pixinguinha. Acho que ele é um dos principais da nova safra.
Você chegou a fazer show na França com apoio do Projeto Pixinguinha, certo?
Foi em 2004 ou 2005. Foi bem legal, bem caloroso, mas cru, pois só fui eu e o Alvinho – na época a gente ainda tocava junto. A gente fez (um show) na Alemanha, em Berlim, e foi com banda e ai foi loucura. A galera curtiu mesmo.
Para eles deve ser uma coisa totalmente nova…
O Brasil está muito hypado lá fora. Quando a gente tocava os sambas e os funks, a galera dançava pra valer.
Como você vê o ato de lançar um disco nesse cenário atual da música? Colocar para download é mesmo o caminho?
Agora aconteceu uma coisa interessante. O meu primeiro disco saiu por um selo do Ronaldo Bastos, a Dubas. E o Ronaldo está lançando um selo novo, o Pimba, e o “Atlântico Negro” vai sair como um dos primeiros discos desse selo, que é alternativo. Porque a Dubas está na Universal, a gente já lançou disco lá e fica caro. Não funciona. O Ronaldo está fazendo uma tentativa agora com o selo Pimba dentro da Tratore. Vai ser legal porque é mais uma pessoa pra ajudar. Ele permitiu, informalmente, que eu possa deixar o disco no site – não está redigido em contrato, mas está acordado verbalmente. E isso pra mim é muito interessante, porque a gente vende muito show (pelo site). E a galera baixa mesmo. Você vê (o show que fizemos em) São José dos Campos com 200 pessoas lá e gente cantando todas as músicas. É muito legal. Se não tivesse na internet seria bem mais difícil de ter essa quantidade de gente…
O National, no show que fez no Tim Festival, agradeceu a internet, que possibilitou eles tocarem no Brasil. Eles não têm nenhum disco lançado aqui, mas muita gente cantava todas as músicas. E por outro lado, por mais que o seu disco esteja para baixar, no outro show (no Sesc Vila Mariana) você trouxe para vender, e acabou rapidinho…
No show de lançamento em Maceió a gente vendeu 700 discos numa noite. A gente quase esgotou uma tiragem de 1000 discos. Eu tenho aprendido a ser um pouquinho prático e viável. O que a gente tem feito em Maceió, e você tem que entender a lógica da cidade, foi um crescente de público. Nós temos feito shows no máximo de dois em dois meses. Não mais do que isso para não perder público, e ele veio num crescente. Há três anos quando começamos a gente colocava 300 pessoas num show, depois pulou pra 400. E ai fica oscilando entre 450 e 600. E num show de lançamento dá 800 com os convidados. Pra gente é uma vitória. A gente é o maior público de banda alternativa, autoral, em Maceió. E fazendo lá eu sei qual é o problema nas outras cidades. Se você seguir uma lógica de produção você consegue fazer e colocar uma galera.
Como está a resposta do disco?
Em Maceió, no lançamento, já estava todo mundo cantando. Como o disco era patrocinado pelo projeto, a gente colocou três outdoors na cidade em pontos estratégicos com endereço para o cara baixar. E quando chegou no show o cara já estava cantando. O que é impressionante. Você olha a quantidade de gente que tem no lugar e impressiona. Aqui em São Paulo, por sua vez, deu pouquíssima gente…
Muita gente repassou por e-mail, twitter…
Eu tenho percebido algumas falhas, que tenho que ver como contornar. Dos três anos que voltei a morar em Maceió, eu toquei bastante em São Paulo, mas em instituição. E o nosso caráter de show é festa. É cervejinha, é paquera, dança. Não é muito espetáculo. Ele é mais balanço. E a gente ficou com esse hiato de três anos sem tocar na noite. Então precisamos fazer um trabalho mais metódico, de tocar em lugares como o Studio SP…
Que é mais ou menos o que o Mombojó fez aqui, o Cidadão Instigado, o Instituto…
A cena pernambucana é muito fortalecida. É um Estado maior, orgulhoso de si, o que é bacana. E tem muita gente de Pernambuco pelo país. Eu acho que… eu deveria passar uma temporada aqui de novo após esse momento de recolhida, mas não sei também se a cidade está no momento de absorver isso (que a gente está fazendo). Só vindo pra cá, e vindo pra cá a cidade também vai nos afetar…
A variedade de nichos em São Paulo acaba permitindo que exista público pra tudo. Complica porque existem poucos espaços, mas nada que abrir uma porta aqui, outra ali, não resolva. O grande problema, porém, é que falta espaço na mídia em São Paulo.
Pra gente que é independente, acumula muita função. Com o passar dos anos, a gente acaba aprendendo a lidar com as coisas todas, então de certa forma você fica macaco velho, mas estar no lugar é importante. Se for pra vir para uma cidade grande como São Paulo, tem que ser pra ficar tocando, fazer temporada, nem que seja num lugar pequeno. Ao mesmo tempo a gente tem rodado bastante o Brasil. Fizemos Belo Horizonte e vamos fazer Rio de Janeiro, Brasília e Recife. Não é ainda o lance de viver disso, mas o fim de semana a gente está viajando, trabalhando. O trabalho está fluindo. Não é uma coisa de viver dele, mas… tem uma coisa… eu nem sou mais novidade e nem sou estabelecido. É lógico que existe certo nível de estabelecimento e de ser bem sucedido no que você considera ser bem sucedido. Sinceramente, eu acho que cheguei mais longe do que eu imaginava que fosse chegar trabalhando com música. Eu fico impressionado com as coisas que a gente já fez, com as pessoas que disseram que gostam da música. Mas ao mesmo tempo eu nem sou a novidade e não estou estabelecido. E estou num momento em que sinto uma certa animosidade, uma certa agressividade por eu estar persistindo.
Sério?
Sim. Não sei se é a internet… porque a gente é muito bem falado. Somos quase uma unanimidade, só que os ataques se tornaram mais freqüentes e mais cruéis. “Quem é Wado? Essa voz de marreco ai?” (risos). Estamos lançando o quinto disco e é uma carreira anônima. Funciona. A gente fez BH e a casa estava cheia. A gente vai pra Belém, 3 mil quilômetros de Maceió, e é foda. Eu só sou popstar em Maceió e Belém (risos). Em Belém todo mundo cantava tudo. A gente começava as músicas do “Terceiro Mundo Festivo” e não precisava nem cantar… a galera cantava. Me realiza muito trabalhar com música.
Lembro-me de você no FMI Maceió, e a gente conversou antes, e você estava indeciso, o “Terceiro Mundo Festivo” ainda não tinha saído e você não sabia o que iria fazer do futuro, mas assim que você entrou no palco teve uma resposta intensa do público…
A internet é muito responsável por isso. A gente vai (tocar) nos lugares e nego fica impressionado mesmo. Acho que todo lugar tem as suas 300, 400 pessoas que são pesquisadoras, que já baixaram e comentaram com os outros. E o que fazemos é um pouquinho mais amplo do que toca em rádios. Ficamos no saco que vai o Curumin, o Cidadão Instigado, o Rômulo Fróes. Acho até que a minha veia pop é um pouquinho maior do que a destes caras, embora eu não tenha a voz pop e tenha algumas abordagens menos experimentais, ao menos nos dois últimos discos.
“Farsa do Samba Nublado” é bem experimental…
Ele tem a canção bonita, mas ele tem a coisa experimental. Já esses dois últimos têm um pouco do que não é convencional, mas eles são muito canção.
Qual música sua foi parar na novela?
“Uma Raiz, Uma Flor”, mas na versão do Fino Coletivo… comigo cantando. Tem a música do disco do Zeca Baleiro, no segundo volume do “Coração do Homem Bomba” (a parceria “Era”). O Marcos Valle gravou umas coisas com o Fino Coletivo, que eram umas parcerias minhas com eles. A Maria Alcina gravou outra (“Não Pára”). A gente já está começando a pensar no disco novo, mas sem pressa nenhuma…
Essas músicas do “Atlântico Negro” são todas novas? Claro, tirando “Feto/Sotaque”…
A “Feto/Sotaque” é do primeiro disco. Regravamos em outro arranjo. Gravamos “Cavaleiro de Aruanda”. Fomos ao programa do Ronnie Von, que tinha gravado ela. Foi o máximo. Ele ficou todo emocionado. “Vocês desenterraram esse negócio”. Ele foi um dos caras que estourou a música. Eu falei com o Tony Osanah (autor de “Cavaleiro de Aruanda”), que era o guitarrista do Caetano naquela banda argentina que o acompanha (Beat Boys), e ele está morando na Alemanha. “Boa Tarde, Povo” e “Rap Guerra do Iraque” a gente já vem tocando faz uns dois anos.
O “Rap Guerra do Iraque” você pegou numa daquelas coletâneas de funk carioca “Proibidão”. E a “Boa Tarde, Povo”?
Eu conheci a música na coletânea “Música do Brasil”, do Hermano Vianna. A autora é de Santa Luzia do Norte (AL).
Você sempre procura gravar uma coisa assim, extra…
Sempre tem uma coisinha, uma referência a Alagoas, mas não é muito pensado.
Então como você pensa no disco? As canções vão saindo e você vai direcionando para algum lugar…
Eu vou compondo, compondo, e geralmente componho mais do que entra no disco. A “Frágil”, por exemplo, a gente chegou a gravar uma guia para o “Terceiro Mundo Festivo”, mas não entrou porque ela não tinha a pegada daquele disco. É uma música com mais violão. Agora já estamos pensando em um disco de samba, mas estamos na dúvida de que estética usar. Tem um caminho mais orgânico, mais eletrônico…
O “Atlântico Negro” você me disse que era uma coisa Ivete Sangalo…
Mas é mesmo. Eu escutei muito Ivete Sangalo. Eu gosto da parte das percussões. É muito bem resolvida. Quando a gente é moleque, a atitude é muito importante, mas quando você vai ficando mais velho… você começa a prestar mais atenção. É muito bem tocado e muito mais inteligente que a maioria das bandas de rock. E ela grava os compositores de morro de Salvador. É uma informação muito legal. O instrumental é muito rico. Estou sendo respeitoso quando falo que é uma coisa Ivete Sangalo. Não é jocoso. Para o próximo disco estamos pensando em fazer samba 808, usando a bateria do Miami Bass e do funk carioca, que o Kanye West tem usado. O (DJ) Marlboro fala muito dessa 808. A “Boom Boom Pow” fala também. Seria a máquina, o tambor que deu origem a tudo isso que veio do Afrika Bambaataa. Então pensamos que poderíamos fazer um samba 808, que agora seria um disco de sambas tristes, melancólicos, meio próximo da “Farsa”. Só que a gente ainda não sabe se ele vai ser puritano no eletrônico, se vai ser radical de deixar só no 808 ou se vai colocar um cavaquinho… A dúvida não está nem nas canções e sim na estética do que a gente faria. Ao mesmo tempo a gente não tem pressa porque o “Atlântico Negro” acabou de sair, mas metade do ensaio a gente já está gastando fazendo outra coisa nova. E a gente nem sabe se vai ser isso mesmo. Agora é isso. Porque quando você começa o caminho pode te levar para outro lado.
Como surgiu a idéia do samba 808?
Eu gosto muito de samba e tenho composto (atualmente) melodias tristes. Quando fui ver, eu tinha uma quantidade de sambas melancólicos. Se você pegar o meu show, tem um repertório variado, e um bloco de samba, que geralmente fechava. E era mais forte. Agora você tem o bloco de funk carioca junto com o de samba, que fecham o show. São as coisas que mais funcionam para o público. E eu nunca tinha me voltado pra isso. De repente agora seja a hora de um disco de samba tradicionalista, até porque eu moro em Maceió. O samba existe no Rio. A idéia do 808 seria legal esteticamente porque você vai para outra linguagem de outra música negra fodona no Brasil, que é o funk. A gente usaria – na verdade a gente não sabe se vai fazer isso – a timbragem dos anos 80 para cá, que é o que está reverberando do Brasil para o mundo. A Bossa Nova bateu forte, mas a nossa onda nunca foi Bossa Nova. Sempre foi favela mesmo.
O caminho do “Atlântico Negro” foi uma coisa natural?
Esse disco a gente não teve esforço nenhum. A gente vinha ensaiar e já aparecia uma música. O nosso batera já tocou em trio elétrico e conhece a linguagem do axé, do afoxé. Então a gente começou a fazer “Estrada”, e ele dizia: “A batera pode ser isso aqui, ou isso aqui, ou isso outro” (risos). O cara já fez três horas tocando em trio elétrico, conhece. Pode fazer aqui uma coisa meio Ivete, ali uma coisa Asa de Águia, ou Margareth Menezes (risos). E a gente ficava escutando e pensando: “melhor ir devagar” (risos). No “Atlântico Negro” a gente foi buscar o Caetano antes do rock, antes destes dois discos roqueiros dele. O “Noites do Norte Ao Vivo” é o DVD do Caetano que faz mais sucesso no Nordeste. Tem em todas as barraquinhas de camelo. E é um puta DVD. Tem o Pedro Sá fazendo guitarra e baixo, o Cesinha na batera, o Davi (Moraes) na guitarra, quatro caras botando pra quebrar na percussão e o Jacques Morelenbaum. Você não encontra o DVD de nenhum dos discos roqueiros em barraquinhas, mas esse “Noites do Norte” tem em toda banquinha.
Os discos roqueiros do Caetano são muito Rio de Janeiro. Lógico, tem a coisa toda do pé na bunda que ele levou, e usou o rock para exorcizar isso…
Existem dois movimentos muito interessantes acontecendo. Fora essa cena rock e essa vontade de periferia do mundo, que existe na música brasileira e da qual eu não me enquadro muito, existem duas coisas muito interessantes acontecendo que são boas para a música brasileira. Uma é a aproximação do Caetano com o rock, que borra o rock de MPB, e outra é o Marcelo Camelo saindo do rock pra MPB, e borra a MPB com o rock. Isso movimenta um monte de gente que não estaria atenta a essas informações.
E o Caetano ainda tem o lance de refletir em todo aquele pessoal que toca com ele, que acaba desembocando no Do Amor, na Orquestra Imperial, no Kassin +2, no Jonas Sá, na Nina Becker, que canta no disco do Rômulo Fróes, que tem o Curumin, que toca com o Catatau. É uma troca de informação muito grande, uma cena muito boa que ainda não chegou à grande mídia.
As coisas estão viáveis. Eu talvez precise me aproximar mais disso. A gente fica muito ilhado em Maceió, por mais que a gente tenha uma agenda de shows pelo país. A gente tem um tamanho que vai encolhendo ficando lá porque você deixa de ter uma reverberação nacional para ter uma reverberação local. Nisso, o selo do Ronaldo Bastos pode ajudar. Está nos meus planos vir pra São Paulo. Está ficando cada vez mais urgente.
Eu vi o seu show do Tim Festival, no Rio de Janeiro, e tenho a impressão que deva ser difícil armar coisas lá…
O Rio de Janeiro é muito cruel. Tem pouca grana, pouco dinheiro circulando pra isso. E a praia desvirtua mais ainda esse negócio. Aqui (em São Paulo) as pessoas têm o hábito de ir aos lugares, e lá é mais difícil. Lá as pessoas também vão, mas para o circuito independente o negócio é meio encrencado.
Aquele show do Tim Festival meio que sedimentou o público que viria a ser do Fino Coletivo. Você tem conversado com eles?
Não muito. Eu tenho uma relação amistosa com todos eles. Na verdade, fiquei meio chateado com o Fino Coletivo… num momento ali em que a gente tinha uma relação muito próxima e a vida me levou a ir pro Nordeste, morar lá, e acho que foi natural eles me tirarem do negócio. Desejo sorte pra eles, mas não tenho muito contato. Ficou aquela coisa de separação…
O Móveis Coloniais de Acajú lota tudo quanto é show sem tocar em rádio. O Ludov tem um público fiel, de 300, 400 pessoas onde quer que a banda vá. É um público que vai aos shows, compra os CDs. Mas as coisas não ultrapassam esse gueto. Como você vê isso? Como fazer para quebrar essa barreira?
Depois que eu li o livro do André Midani (“Música, ídolos e poder: Do Vinil ao Download”), um livraço, o cara é meio que um Forrest Gump da música, eu pensei em dois cenários. Agora está mais segmentado. Aquela coisa massiva que a gente tinha antes, até o começo dos anos 90, não vai existir mais. Ao mesmo tempo, aquela coisa massiva ainda predomina nas rádios. O que a gente tem de novidade? Os emos, COM 22, NX Zero, Fresno…
Que é uma cena imposta…
É. E do lado da música brasileira você tem Vanessa da Matta, Seu Jorge… Fora isso ainda houve a explosão dos quatro compositores: Chico César, Lenine, Zeca Baleiro e Paulinho Moska. Foram eles que chegaram para o Brasil. Pra quem é segmento é meio secreto. Essa é a minha visão. A cena pernambucana é unida e se beneficia muito de seu caráter ufanista e, claro, do boom do manguebeat. E o Fred 04 vem agora e diz que sente falta das majors…
Tremenda bola fora…
É legal também que tenha alguém que venha dizer outra coisa até para dar um paradoxo, mas ele coloca um negócio meio complicado ali.
Tem uma história engraçada. Escrevi um texto ano passado em que eu citava o cara do Jesus and Mary Chain, que reclamava de que ele ia e gravava o disco e todo mundo baixava de graça. E o Zezé di Camargo na Folha dizendo que internet é isso ai, os caras baixam o disco e a gente vai e lota o show…
E alguma coisa vem ai. Geralmente quando os caras começam a lançar caixa de Beatles é porque vai acabar. Quando saíram as edições especiais de LP veio o CD. Agora que estão lançando as especiais de CD alguma coisa vem. Eles estão ganhando o último dinheiro. Acho que vai melhorar um pouquinho, mas o Brasil é muito selvagem. No Nordeste ninguém compra nada. Compra tudo no camelo. Nós estamos nas beiradas, e estão surgindo umas brechas. Mais do que antes até. Por estar na crise, no caos. É lógico que há o formato. Você quer “construir” uma banda, e quer que o negócio de certo, então fecha um acordo: vai tocar sete vezes por dia na rádio durante dois meses para testar. Fecha-se um contrato. Pode ser bom ou ruim, ter carisma ou não, e vai dar um resultado que é imprevisível. Mas se tem um maluco que vai ali pagar o jabá, é assim que se faz um artista. No Brasil a gente sabe que sempre foi assim, e continua sendo. É um trabalho metódico. Tocar no rádio eu já toquei, mas toca uma vez hoje outra no fim de semana daqui 15 dias. Não tem como a pessoa ouvir no rádio uma vez e guardar. Tem que ter um dinheiro envolvido.
E tem a TV ainda, e a gente cai no episódio Beirut. Como foi parar na novela? De repente o cara gostou da música…
Ainda existe isso…
…e colocou lá. Eu recebi um e-mail de uma leitora pedindo para eu identificar o nome de uma música em uma reportagem do Globo Esporte. E era Beirut… e o show aqui em São Paulo foi uma coisa ensandecida…
É porque o Beirut é emocional demais assim como as músicas românticas da fase mais pop do Radiohead. Você ouve aquela melodia cortante… é comoção. Beirut é muito Los Hermanos, canção em acorde menor, metaleira. Eu não sei o que é (que fez eles fazerem sucesso). Se soubesse (risos)… e nem acho que seja o caso de se soubesse estava fazendo. A gente faz o que pode.
Leia também:
– “Atlântico Negro”, o disco faixa a faixa, por Wado (aqui)
– Wado lança “Atlântico Negro” no Studio SP, por Marcelo Costa (aqui)
– O Atlântico Negro, o livro, por Hermano Vianna na Folha Online (aqui)
– Wado, Cidadão Instigado e Tom Zé no FMI Maceió 2006, por Marcelo Costa (aqui)
– Fred ZeroQuatro, a internet e o fim da indústria, por Marcelo Costa (aqui)
– A comoção do Beirut ao vivo em São Paulo, por Marcelo Costa (aqui)

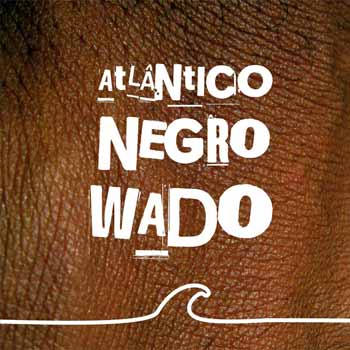

Taí uma pauta de reportagem interessante, Marcelo: como sobrevivem os artistas independentes nacionais, especificamente aqueles que tem bastante destaque na cena independente, mas nenhum diante do grande público. São funcionários públicos de dia e músicos à noite?
O Wado tocou num ponto interessante: a selvageria nacional. Ninguém compra nada. Existe uma certa amargura nisso – o sujeito vive no Brasil e vê casos sucessivos de corrupção e os envolvidos absolvidos pelo esquecimento, e é natural que, diante disso, ele acione, inconscientemente, um modo mental constante calcada numa idéia pervertida de “tirar vantagem” ferozmente sobre tudo. Há um certo orgulho cínico em dizer “eu fiz foi baixar”. É como se fosse raiva mal direcionada, entende? Em vez de apontar toda essa raiva para as urnas, aponta-se para todas as direções que se relacionam com consumo (e, claro, com convivência social, em geral ). De modo que, no fundo, é uma questão de educação. Todos os jovens felizes, saudáveis e sexualmente ativos que vão ao show dos chatíssimos Móveis Coloniais poderiam comprar o disco deles. Nem 10% o fazem. Mas estão lá ‘curtindo’ o show. Eu entendo não comprar o disco novo da Madonna. Ela tem todo o dinheiro que precisa. Agora, de bandinhas independentes, por que não?
Abraço!
p.s.: só uma coisa mais: o caetano se aproximando do rock contemporâneo pra mim foi um bad move para o final de carreira dele. eu sei que todo mundo está gostando e acha legal, e ele agora é ‘hype’ na noite paulistana, mas a verdade é que os dois discos são fraquinhos, não tem nenhuma grande canção, nenhuma idéia mais consistente que agrupe o disco, tudo está muito primário – e, claro, tendo a ver com rock, acaba tendo que ter a ver com primário, mas o fato é que caetano é um artista acima da média e poderia estar fazendo coisas muito melhores. eu penso num tom waits, por exemplo, lançando um alice e um blood money há poucos anos atrás, duas obras-primas inquestionáveis, riquíssimas. e aqui o caetano lançando disquinho com arranjos sem graça, metidos a minimalistas, mas simplesmente sem inspiração alguma. disco próximo do rock de caetano é transa, e ali sim vc ouve genialidade, criatividade transbordante, que quase não cabe no disco. nesses últimos, é patético. é patético mesmo ouvir caetano falando que radiohead é bom. caetano devia tá pouco se fodendo pra radiohead – ele tenta ser cosmopolita, mas continua sendo um sujeito do interior, cheio de complexo, querendo se auto-afirmar se aproximando de coisas supostamente modernas. aliás, isso continua sendo o brasil. em certo sentido, os últimos discos do caetano são bem isso, a cara do brasil: a mentaldade classe-média lutando para soar cool, contemporânea e inteligente.
Tem gente que gostaria de ouvir o Caetano cantar “Sampa” a vida inteira.
Wado é um desses casos de q, se o mundo fosse justo, seria idolatrado mundo afora. ‘Farsa do samba nublado’ é, fácil, um dos melhores discos da década (incluindo Europa e EUA).
O único show q vi dele foi na cidade onde moro (Ponta Grossa-PR), há uns cinco anos atrás, graças ao Projeto Pixinguinha. Tomara q com o ‘Atlântico’ apadrinhado pelo mesmo, ele volte a dar as caras por aqui.
Pô Mac, depois daquele texto preguiçoso do show do Arnaldo Antunes, tu mandas ver com essa entrevistassa do Wado. Lógico que o cara falou muito e bem, mas o mérito é todo seu por nos brindar com ideias tão legais e pertinentes. Um abraço,
Otima entrevista. Não canso em dizer que o Wado é o artista nacional mais relevante do momento. E aqui em Belem o cara é popstar mesmo 🙂 No show do ano passado todo mundo cantou junto todas as musicas e ele foi extremamente aplaudido. Longa vida ao seu trabalho.