
"Zico – 50 Anos de Futebol"
por
Fabio Bianchini
fabiobianchini@matrix.com.br
28/05/2003
Na noite de 2 de dezembro de 1989,
encontrei-me com meu primo, torcedor do Fluminense. No Fla x Flu daquela
tarde de sábado, o Flamengo havia imposto 5 x 0, com direito a um
golaço de falta de Zico. A primeira parada da nossa conversa foi,
claro, minha corneteação. Ele não respondia. Ao fim,
apenas respondeu: “não sei que tanta graça tu achas. Quem
perdeu o Zico foram vocês, não nós”.
Aquela partida fora a despedida do
Galinho, o rei da maior nação do Brasil, dos gramados como
jogador profissional. E eu ria. É verdade. Que graça eu achava?
Do que eu ria? Imaginei que talvez a ficha não houvesse caído,
que em algum lugar de minha cabeça eu ainda achasse que ele fosse
estar escalado no meio da semana. Então, durante o resto da noite
e em muitas outras, até o dia 6 do fevereiro seguinte e em várias
ocasiões depois disso, lembrei-me do que eu vira Zico fazer em campo.
Lembrava, claro, daquele último
gol. Mas lembrava também daquele contra a Iugoslávia em 1986,
quando Zico fez misérias dentro da grande área deles e o
Brasil venceu por 4 a 2. Daquele outro, pelas eliminatórias, contra
o Paraguai, quando ele puxou a bola da calcanhar, colocou na frente e fuzilou.
Daquele de cabeça contra o Atlético Mineiro, pelas semifinais
do campeonato brasileiro de 1987, quando ele foi até o fim para
levar mais aquele troféu para o Flamengo e coroar uma década
abençoada, que nunca nenhum outro time teve igual no Brasil. Ou
aquele contra o Cobreloa, que garantiu o título da Libertadores,
que mais tarde levaria ao campeonato mundial, em uma partida em que não
marcou, mas participou dos três gols, com pelo menos dois passes,
o primeiro e o terceiro, ambos para Nunes, de gênio. Que tal a meia
bicicleta contra a Nova Zelândia na Copa de 1982?
Também lembrei dos maus momentos.
O pênalti contra a França. O estranho fenômeno Rossi
em 1982. E, o pior de todos, a agressão do zagueiro do Bangu no
fim de agosto de 1985, cujas conseqüências nunca deixaram Zico
em paz. Cirurgia após fisioterapia após recuperação,
ele nunca mais foi o mesmo.
 Essas
passagens e muitas (muitas mesmo) outras mais estão em "Zico – 50
Anos de Futebol" (Record), de Roberto Assaf e Roger Garcia. A obra é
mais um entrevistão do que uma biografia no sentido aprofundado
e esmiuçado. Quase todos os depoimentos são de Zico e é
o lado dele das histórias que prepondera sempre. O trabalho de pesquisa
aparece mais em trechos que o Galinho cita algum jogo e eles tratam de
encontrar a sua data e local de realização. Essas
passagens e muitas (muitas mesmo) outras mais estão em "Zico – 50
Anos de Futebol" (Record), de Roberto Assaf e Roger Garcia. A obra é
mais um entrevistão do que uma biografia no sentido aprofundado
e esmiuçado. Quase todos os depoimentos são de Zico e é
o lado dele das histórias que prepondera sempre. O trabalho de pesquisa
aparece mais em trechos que o Galinho cita algum jogo e eles tratam de
encontrar a sua data e local de realização.
Mas o fato de não ser um livro
como, por exemplo, "Estrela Solitária" não rouba o prazer
da leitura. É comovente ver o menino Arthur Antunes Coimbra crescendo,
aprendendo a falar o nome de seu ídolo Dida antes mesmo dos de seus
pais, para crescer e tornar-se uma figura ainda mais importante que ele
para seu clube de coração. Assaf e Garcia recuperam o dia
em que Seu Antunes, pai de Zico, viu o Flamengo jogar pela primeira vez
e tornou-se rubro-negro, apesar da derrota.
Eles abordam também, sempre
de forma rápida, mas clara, vários fatos confusos, como o
corte de Zico da Seleção Olímpica de 1972 por causa
de ligações políticas de seus parentes, o pacto no
bar Barril 1800, em 1977, que marcou o início da era de ouro do
Flamengo, as copas de 1978, 1982 e 1986, os bastidores da ida para a Udinese
e a temporada italiana, quando Zico, mesmo em um time pequeno, foi o vice-artilheiro,
um gol atrás de Platini, da poderosa Juventus, que jogou três
partidas a mais. E mesmo lá, nunca foi derrotado por Maradona, que
precisou fazer um gol de mão para o Napoli empatar com a Udinese.
Também são lembrados a decisão de abandonar o futebol,
o cargo de secretário no governo Collor, a ida para o Japão,
e, como auxiliar-técnico de Zagallo em 1998, o corte de Romário
e as convulsões de Ronaldo. Vários desses casos são
acompanhados de revelações inéditas.
De alguma forma, rever tudo isso sob
esses novos ângulos é mais uma forma de não deixar
Zico ir embora. Claro que a cada passe desastrado no meio campo do Flamengo
ou da Seleção, ou quando vimos Arilson entrando em campo
com a 10 amarelinha, pensamos no quanto seria melhor se ele ainda pudesse
estar no gramado e fazer tudo o que fazia, mas ainda se o fizesse, seria
uma contribuição de um grande jogador. E Zico não
é só isso.
Quando vimos Rodrigo Mendes ir à
casa do Mestre no dia seguinte ao de seu gol de falta que rendeu a vitória
sobre o Vasco e garantiu o campeonato carioca de 1999, o primeiro da série
de três seguidos sobre nosso pretenso maior rival ou quando Petkovic
concluiu, também com gol de falta, a mesma trilogia, em 2001, sabemos
que não é assim. A cada vez que vemos um Sávio ou
um Athirson mostrar que pode ser um gênio, é de Zico que lembramos.
Sempre que acertamos um passe genial ou improvável na pelada, mesmo
que ninguém mais note, sobe aos nossos lábios aquele sorriso
a lembramos da inspiração. Se o passe é de longa distância
e deixa o companheiro na cara do gol, aí é impossível
deixar de comentar: “esse foi de Zico, hein?”
A lealdade de Zico, sua firmeza na
busca dos propósitos, a disposição em sacrificar-se
em nome do futebol, o exemplo de profissionalismo e retidão de comportamento
dentro e fora do campo são notáveis e serão sempre
lembrados. Mas são apenas os recursos de que ele lançou mão
para poder mostrar o mais importante: a mágica do que fazia com
os pés. E isso está encravado no coração de
todos os jogadores que honram o Manto Sagrado ou mesmo os que não
tiveram essa oportunidade, mas fazem questão de declarar que foi
o Galinho o seu modelo. E é por isso que, queira ele ou não,
nunca perderemos Zico. E é por isso que eu ria.
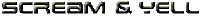
|